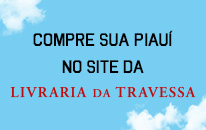Com dados inéditos sobre o desmatamento, Chris Uhl e os jovens cientistas treinados por ele deram rigor sem precedente ao ativismo brasileiro FOTO: BERNARDO ESTEVES
O mentor
Um exército de Brancaleone contra o desmatamento na Amazônia
Bernardo Esteves | Edição 111, Dezembro 2015
Em novembro de 2013, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira – a mais longeva do governo, com quase seis anos à frente da pasta –, reuniu a imprensa para anunciar a taxa anual de desmatamento na Amazônia. Depois de oito anos de queda praticamente ininterrupta, o número voltara a subir. O percentual de aumento foi expressivo – 28% –, mas a área devastada manteve-se inferior a 6 mil quilômetros quadrados, quase 80% abaixo da taxa registrada em 2004. “Desmatamento na Amazônia é o segundo menor da série histórica”, noticiou o site do Ministério.
O site O Eco preferiu ressaltar o tom zangado e ácido do anúncio de Teixeira. À ministra, irritavam – e muito – as previsões exageradas da taxa anual feitas pelo Imazon, organização não governamental sediada em Belém que opera um sistema próprio de monitoramento. O instituto paraense havia estimado que o número cresceria 92%, percentual mais de três vezes maior que o divulgado pelo governo. “São metodologias distintas e objetivos distintos. A realidade e o dado oficial do Brasil são aqueles que o Inpe atesta”, disse a ministra, referindo-se ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que todo ano calcula a taxa de desmatamento a partir da análise de imagens de satélite.
O alvo das críticas de Teixeira era o SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento, iniciativa lançada pelo Imazon em 2007. O projeto, que hoje conta com a parceria do Google, foi criado com o propósito de fornecer informações independentes das estimativas oficiais. Por trás da iniciativa estava a ideia de que a diminuição da floresta deveria ser aferida como se medem as variações da Bolsa de Valores. “Deveríamos ter a capacidade de dizer claramente todo mês quanto estamos perdendo de floresta”, explicou o agrônomo Adalberto Veríssimo, um dos fundadores da ONG, a uma plateia de cientistas naturais e ambientalistas num evento em maio.
O SAD gera relatórios mensais da área desmatada na Amazônia brasileira. Os boletins são publicados no site do Imazon e enviados à imprensa, às secretarias estaduais e municipais do Meio Ambiente, ao Ministério Público e outros órgãos governamentais, inclusive da esfera federal. O Sistema de Alerta de Desmatamento é o projeto de maior visibilidade do Imazon. Seus resultados são regularmente noticiados na imprensa e provocam debate – a irritação da ministra parece insinuar que a ONG paraense pinça um nervo seu.
Compreende-se. Nenhum dado é mais relevante do que a taxa de desmatamento da Amazônia para o esforço brasileiro de limitar a quantidade de gases do efeito estufa que lança na atmosfera. Derrubar floresta libera gás carbônico, o principal causador do aquecimento global. No âmbito das negociações climáticas internacionais, o Brasil figura como o país que maior êxito teve em conter suas emissões. Contestar as taxas do governo é, portanto, pôr em dúvida a história que contamos ao mundo. É inoportuno, principalmente às vésperas de grandes conferências do clima.
Numa tarde de outubro de 1988, em Belém, o americano Christopher Uhl conversou com seu estagiário Adalberto Veríssimo sobre o instituto que pretendia criar. Ecólogo especializado na regeneração de florestas, Uhl havia conseguido financiamento de uma fundação de seu país para criar no Brasil uma ONG que produzisse dados científicos de qualidade sobre a devastação das matas. De certa forma, ele lançava um desafio geracional: o pessoal de 20 e poucos anos no final da década estava disposto a evitar que a Amazônia desaparecesse? Veríssimo estaria à altura do desafio? Topava enfrentá-lo?
Aos 23 anos, o rapaz estava prestes a concluir a graduação em agronomia. Nascido em Campina Grande, na Paraíba, ele soube aos 13 anos onde queria estar quando viu na tevê uma reportagem sobre desmatamento que trazia um vaticínio sombrio – se nada fosse feito para conter as motosserras num futuro próximo, a maior floresta tropical do mundo corria o risco de se transformar em deserto. “Quero ir para a Amazônia”, ele disse à mãe. Dez anos depois, morando em Belém e tendo ouvido falar dos trabalhos de Uhl – então na capital do estado como pesquisador da Embrapa –, Veríssimo chamou-o para uma palestra.
A trazer estudantes de pós-graduação americanos, Uhl preferia construir sua ONG com uma equipe de pesquisadores locais, que conhecessem bem os problemas da Amazônia. O ecólogo viu disposição e espírito de liderança em Veríssimo e ofereceu-lhe um estágio de pesquisa.
Alto e magro, Uhl tinha 39 anos e seus cabelos escuros ganhavam os primeiros tons prateados nas laterais. Com olhar expressivo e fala envolvente, explicou a Veríssimo o objetivo da organização que idealizara com seu conterrâneo David McGrath. Não era preciso exercer muito magnetismo para convencer o estudante: o projeto lhe permitiria trabalhar com o objeto de estudos de seus sonhos, e além de tudo à margem do ambiente acadêmico, que lhe parecia engessado e pouco estimulante. O paraibano disse sim.
A equipe cresceu com a adesão de Paulo Barreto, um jovem filho de agricultores baianos que migraram para o Pará quando o menino tinha um mês. O rapaz havia se mudado para Belém para estudar engenharia florestal e foi apresentado a Chris Uhl por um professor. Foi contratado aos 21 anos, um dia depois de se formar. Barreto figura entre os fundadores do Imazon, ao lado de Veríssimo, McGrath e Uhl. O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia nasceu em 10 de julho de 1990.
Quem pegasse a Rodovia Belém–Brasília nos anos 90 avistaria com facilidade, a 300 quilômetros da capital paraense, um brilho alaranjado no céu e uma nuvem perene de fumaça produzida por fornos de serrarias e restos de madeira queimando ao ar livre. Se apurasse os ouvidos, também identificaria a sinfonia das motosserras em ação. Eram os sinais inequívocos de que o viajante estava chegando a Paragominas.
Num museu da cidade há uma foto de Juscelino Kubitschek aboletado no banco de um trator de esteira. Com ar resoluto, o presidente está prestes a derrubar uma árvore para a abertura da BR-010. Situado no leste do Pará, na fronteira do Maranhão, o município nasceu como entreposto para a construção da Belém–Brasília, a primeira estrada pavimentada da região, símbolo da integração da Amazônia que JK queria promover. Por trás do gesto havia certo temor da cobiça internacional pela área, anos mais tarde cristalizado pela ditadura no slogan “Integrar para não entregar”. Tratava-se de desenvolver a região Norte do país, e a floresta parecia um entrave ao progresso. O regime militar fomentou o desmatamento ao ceder terras e condicionar o crédito aos proprietários que se comprometessem a limpar metade do terreno.
Os produtores rurais que se instalaram em Paragominas – vindos majoritariamente do Pará, de Goiás e Minas Gerais, daí o nome – fizeram com afinco a lição de casa. As margens da Belém–Brasília foram gradualmente limpas e ocupadas pelo gado. Mas em poucos anos os solos empobreceram – só uma pequena porção da Amazônia é adequada à pecuária –, a ponto de tornar a atividade inviável economicamente. Os criadores de gado então se voltaram para a floresta, em busca de madeiras de alto valor no mercado internacional.
Com cerca de 240 serrarias trabalhando a todo vapor, Paragominas se tornou o grande produtor de madeira em tora do país. Polo regional do desmatamento – havia quem a chamasse de “Cubatão da Amazônia” –, era também uma área de conflagração, com disputas violentas por terra que amiúde terminavam em morte – outro apelido da cidade era Paragobalas. Um clima de tensão tomava conta de toda a Amazônia. Naquele ano o ativista Chico Mendes fora assassinado no Acre, trazendo a questão ambiental para o primeiro plano da vida do país. A cada ano aportavam novas levas de pesquisadores financiados por fundações estrangeiras e estudantes de pós-graduação. O jogo ambiental planetário estava sendo jogado na Amazônia, e o mundo estava de olho.
Paragominas era um laboratório ao ar livre para o estudo da dinâmica do desmatamento. Praticamente do tamanho do estado de Sergipe, o município refletia um microcosmo da Amazônia – havia pecuária de corte, exploração madeireira, agricultura, áreas indígenas. Estava na vanguarda da exploração da floresta: tendências que apareciam ali mais tarde seriam identificadas em outras áreas da Amazônia. Se você fosse um estudioso da degradação ambiental, Paragominas era o lugar onde se fixar. Foi para lá que Chris Uhl levou os dois jovens que havia recrutado.
Aos 66 anos, Uhl continua esguio e vigoroso. Destacam-se hoje, se comparados às fotos do passado, o cavanhaque grisalho e os cabelos mais ralos. Reside há duas décadas na cidade de State College – é lá que fica o campus da Penn State, a Universidade Estadual da Pensilvânia, onde dá aulas. O ecólogo recebeu a piauí durante quatro dias no fim de outubro; Beto Veríssimo também viajou para State College na mesma ocasião e reviu o professor pela primeira vez em quinze anos.
Metódico, Uhl preparou um roteiro detalhado da visita, enviado por e-mail dias antes. Durante o jantar num restaurante indiano que Uhl escolhera para a noite da chegada, ele celebrou o encontro com o ex-discípulo, agora um ambientalista de 50 anos reconhecido internacionalmente. Falaram dos primeiros projetos de pesquisa do Imazon e dos longos meses passados em Paragominas. O americano disse que recomendou aos alunos que não tivessem pressa de entender o que estava acontecendo. “Temos que deixar que o campo seja nosso professor”, ensinava. Preveniu-os de que nada que produzissem nos primeiros meses seria publicável. “Vamos brincar no tanque de areia”, dizia aos alunos. “Ideias e perguntas são baratas, não economizem.”
O instituto idealizado por Uhl e McGrath seria, antes de tudo, um centro de produção de conhecimento. Os dois, afinal, eram cientistas. “Era importante que não tomássemos partido”, disse Uhl, “o que é muito incomum para uma ONG.” O princípio não foi aceito sem resistência, disse Beto Veríssimo numa entrevista recente na sede do Imazon. “Pedir a um grupo de jovens progressistas, preocupados com meio ambiente e direitos humanos, para que se engajassem por meio da pesquisa, e não do ativismo, gerou um conflito muito forte nos primeiros anos”, afirmou o agrônomo.
Em vez de promover o ativismo, como a maior parte das ONGs em atividade na Amazônia naquele momento, o Imazon tentaria suprir a lacuna urgente de dados empíricos sobre a exploração da floresta. Quase não havia pesquisadores atuando com ferramentas quantitativas para caracterizar a dinâmica do desmatamento. O tema era muito discutido, mas o debate, pautado por ideologias e dogmatismos, carecia de lastro factual. “Os pesquisadores se apresentavam mais como pessoas que opinavam sobre a realidade do que como produtores de informação de qualidade, com um grau necessário de isenção”, disse Veríssimo.
Logo que o instituto começou a tocar seus estudos, Uhl alertou os discípulos que ainda não era hora de fazer barulho: ficariam coletando dados e pesquisando em silêncio. Só entrariam no debate depois que tivessem algo a dizer. A credencial do grupo seria a qualidade da informação que produziriam. Era natural que os ignorassem – o mundo tomaria conhecimento do Imazon quando chegasse a hora.
O ponto de partida de Uhl era sempre o mesmo: “O que está acontecendo aqui?” – uma pergunta que o ecólogo havia aprendido com uma professora de mestrado e segue fazendo a seus alunos até hoje. No caso de Paragominas, a questão se desdobrava numa série de outras. Onde a mata estava sendo derrubada? Com que velocidade? Quem estava usando a terra? Com que fim? – questões que poucos cientistas baseados na Amazônia haviam se dado ao trabalho de investigar. Uhl julgava que não seria possível compreender a dinâmica do desmatamento sem antes estudar seus aspectos econômicos. Quem estava ganhando dinheiro com a atividade madeireira, e quanto? Quantos impostos e empregos gerava a extração da madeira? Follow the money, Uhl recomendava aos alunos – siga a trilha do dinheiro.
Ao priorizar a qualidade da informação científica produzida pelo instituto, o americano imprimiu a sua ONG um rigor que o ativismo brasileiro desconhecia até então. Seu método consistia em ir a campo, observar o problema que desejava entender e descrevê-lo com a maior precisão possível, de preferência com uma profusão de dados quantitativos. Para investigar o impacto da exploração madeireira em Paragominas, isso significava determinar quais eram as espécies de árvores mais cobiçadas, quantas delas eram derrubadas por hectare e quantas outras eram arrastadas apenas pela má sorte de ter nascido ao lado de um mogno maciço ou de uma portentosa maçaranduba (a resposta era 27 árvores mortas à toa, em média). Também queriam saber quanta madeira saía da floresta e como ela era escoada até as serrarias. Uma das tarefas dos jovens pesquisadores consistia em ficar de tocaia à beira da estrada observando e contabilizando o trânsito dos caminhões – constataram que, para cada veículo carregando gado, havia dezenas de outros levando madeira. Num único dia, o número de caminhões que deixavam a floresta amazônica levando toras de madeira podia chegar a 7 mil.
Uhl, Veríssimo e Barreto ficaram instalados na Casa Verde, uma construção em madeira e alvenaria que serviu de quartel-general avançado do grupo na fronteira do desmatamento. Passavam os dias colhendo dados e, à noite, promoviam brainstorms animados. O americano pretendia submeter um projeto de pesquisa a uma fundação interessada em financiar estudos de conservação da Amazônia. Veríssimo contou que, por várias noites, os três tentaram enquadrar o problema, mas as ideias eram todas descartadas – por modestas demais ou ambiciosas demais. Até que veio o estalo: eles próprios organizariam uma operação para extrair madeira – só que de maneira sustentável, o que os especialistas chamam de manejo. “Aí o Chris falou: essa ideia vale”, disse o agrônomo.
A proposta se resumia a comparar o impacto da atividade madeireira predatória, tal qual praticada à época em Paragominas, com aquela que adotasse o plano de manejo florestal concebido por Chris Uhl, Beto Veríssimo e Paulo Barreto. Queriam mostrar não só que o método era factível tecnicamente – uma incógnita, já que ninguém havia feito a experiência numa floresta tropical –, mas também podia ser rentável e vantajoso para os madeireiros, sem comprometer a capacidade de regeneração da floresta. Aquele seria o primeiro grande esforço de pesquisa do Imazon. Uhl considerava que, se o instituto passasse em seu teste de fogo, mostraria a que tinha vindo; caso contrário, deveria se retirar de cena.
O êxito da empreitada dependia da cooperação dos madeireiros. O diálogo com os bad guys, como o grupo se referia aos personagens geralmente apontados como vilões na história do desmatamento, estava na base da abordagem metodológica que Uhl transmitia aos alunos. Os bad guys tinham que fazer parte da solução. Nem podia ser diferente: a atividade madeireira gerava milhares de empregos e respondia pelo grosso da arrecadação fiscal de Paragominas. Se deixasse de existir do dia para a noite, metade da população acordaria desempregada e a cidade entraria em falência.
Colaborar com os madeireiros, grupo demonizado por quase todos os ambientalistas da Amazônia, soava paradoxal. “Como é que eu, que venho do movimento social, vou trabalhar com esses caras?”, questionou-se o agrônomo Paulo Amaral, à época envolvido com política estudantil e identificado com causas sociais. Nascido em Belém, Amaral foi integrado ao projeto de manejo quando se juntou ao Imazon em 1991, aos 26 anos. Continua no instituto até hoje.
O grupo conseguiu estabelecer uma relação de respeito com os bad guys. Encarregado de traçar um diagnóstico do impacto da atividade madeireira sobre a economia local, Veríssimo entrevistou donos de serrarias e levantou dados quantitativos. Não foi difícil convencer um deles – o mesmo que já havia cedido um terreno em sua fazenda para a construção da Casa Verde – a emprestar duas áreas de 100 hectares para a condução da pesquisa. Numa delas a madeireira faria a exploração de praxe, documentada pela equipe de cientistas. Na outra, adotaria o plano de manejo concebido por eles, de forma a poder comparar os resultados.
O primeiro passo era fazer um inventário minucioso da área a ser explorada. Antes do corte, uma equipe de técnicos foi a campo repertoriar e identificar todas as árvores de médio e grande porte do terreno, principalmente as de valor comercial. Apenas um número limitado delas poderia ser arrancado, para não comprometer a capacidade de regeneração da floresta. A derrubada era planejada de forma a identificar quais árvores seriam cortadas, em que direção tombariam e que caminho faria o trator que as transportaria. Depois da retirada, aquele trecho de floresta ficaria em repouso por pelo menos vinte anos até se recuperar.
A equipe do Imazon constatou que a adoção do plano de manejo não só danificava menos a floresta, conforme já esperavam, mas também era vantajosa para os madeireiros. As práticas sustentáveis teriam algum custo para os produtores, mas pouco reduziriam sua margem de lucro, conforme calculou o grupo – um sacrifício pequeno diante da possibilidade de explorar aquele recurso sem o risco de vê-lo se esgotar.
Os resultados do estudo ganharam espaço na literatura especializada, mas foram também compilados num guia de boas práticas florestais destinado a profissionais da atividade madeireira. Floresta para Sempre se tornou um manual adotado regularmente nas escolas de engenharia florestal. Quando o Imazon divulgou o guia recentemente no Facebook, por ocasião de seus 25 anos, um leitor comentou: “Esse era meu livro de cabeceira!”
O sucesso das práticas testadas em escala-piloto pelos jovens pesquisadores do Imazon foi replicado em grande escala. “Hoje na Amazônia há 3 milhões de hectares de florestas manejadas que tiveram origem naqueles 200 hectares em Paragominas”, disse Veríssimo. No início deste século, entrou em vigor uma nova lei sobre manejo florestal que passou a exigir o cumprimento de várias das práticas que haviam sido propostas pelo grupo, como o inventário florestal e o planejamento da exploração.
Era exatamente para isso que o Imazon fora concebido. Não bastava apenas gerar informação: era preciso que os dados reverberassem na sociedade e contribuíssem para transformar o status quo – mudando a legislação, as políticas públicas ambientais e o comportamento da sociedade, dos agentes econômicos e do poder público. O êxito do plano de manejo colocou o Imazon no radar dos ambientalistas e encerrou o período formativo da instituição.
De 30 de novembro a 11 de dezembro, negociadores de quase 200 países devem se reunir nos arredores de Paris a fim de costurar um acordo internacional para manter abaixo de um limite tolerável o aquecimento global ora em curso. A mudança do clima se deve ao acúmulo na atmosfera de gases do efeito estufa emitidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis, mas também pela derrubada de florestas e por outras atividades econômicas.
Como grande desmatador que foi até 2004, o Brasil era também um emissor de peso. O inventário nacional com dados de 2005 estimou que naquele ano o país lançara o equivalente a 2,19 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, sendo dois terços referentes à mudança de uso da terra, categoria onde se enquadra o desmatamento. O Brasil reduziu muito suas emissões devido à queda do índice de derrubada da Amazônia. A origem dos gases estufa brasileiros agora está mais equilibrada entre a mudança de uso da terra, a agropecuária e o setor energético.
Na tentativa de fechar um acordo climático internacional em Paris, o Brasil e outros países submeteram à Convenção do Clima da ONU uma lista de ações que pretendem pôr em prática para combater o aquecimento global, inclusive indicando a cota de redução de emissões de gases estufa de cada signatário. O Brasil pretende diminuir suas emissões em 43% até 2030 em relação aos índices de 2005, além de aumentar o uso de energias renováveis e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. O país está no caminho de cumprir seu compromisso. Um inventário independente estimou que, no ano passado, o país emitiu 634 milhões de toneladas de CO2 a menos do que em 2005, uma queda de quase 30%.
Christopher Francis Uhl nasceu em 1949 nos arredores da Filadélfia, na Pensilvânia, filho de um engenheiro químico e de uma dona de casa. Na graduação escolheu um programa de estudos asiáticos e passou uma temporada no Japão, onde se deixou influenciar pelo budismo – mais tarde, diria que a cultura japonesa foi o primeiro assunto pelo qual se apaixonou. Na volta aos Estados Unidos, lecionou numa escola para reeducação de menores infratores.
Ao rememorar o período, durante uma entrevista em seu gabinete de trabalho, Uhl disse que seu interesse pelo meio ambiente só foi despertado tardiamente. Ele andava lendo sobre o que podia ser feito para curar um mundo ferido e chegara a pensar em cursar medicina. “Me senti convocado a agir no campo da cura”, disse. Quando, no mestrado, matriculou-se numa cadeira de ecologia, descobriu que havia uma disciplina científica cujo intento era diagnosticar e propor tratamentos para os males do meio ambiente. “É sério que existe essa profissão?”, quis saber do professor ao final da primeira aula.
Foi em busca da cura que ele se especializou em ecologia das perturbações, uma disciplina que estuda a capacidade dos ecossistemas de se regenerar após um trauma. Nos anos 80, Uhl foi a campo estudar a recuperação da mata em pastagens abandonadas na Amazônia venezuelana. Surpreendeu-se com a resiliência das florestas. “Corte-as e elas crescerão de novo. Queime-as e elas se regenerarão”, escreveu num artigo. Ganhou visibilidade em 1986, ao publicar, a quatro mãos com o colega Geoffrey Parker, um artigo em que calcularam a área de floresta que é derrubada para a produção de um único hambúrguer – 5 metros quadrados ou uma pequena cozinha, segundo a dupla.
Depois de concluir o doutorado, Uhl inscreveu um projeto de pesquisa na Venezuela num edital polpudo da NSF, a agência americana de fomento à ciência. Não conseguiu o financiamento, mas recebeu uma recomendação do parecerista que avaliara seu projeto. “Quer ver perturbação? Pois vá para o Brasil.”
No fim dos anos 80, Uhl conheceu David McGrath em Penn State. Juntos, esboçaram o projeto de criação de uma ONG de pesquisa que pudesse ter algum impacto no combate ao desmatamento da Amazônia. McGrath, que todos chamam de Toby, é um geógrafo de 63 anos que passou boa parte da vida pesquisando e dando aulas na Amazônia. Filho de diplomata, viveu no Brasil durante a adolescência e voltou para trabalhos de campo na floresta depois de se formar por Harvard. Hoje é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém.
Falando da Califórnia pelo Skype, McGrath contou como idealizaram o Imazon. “Conversamos sobre a importância de ter uma instituição no Brasil que pudesse fornecer informações técnicas sobre impactos ambientais das atividades amazônicas para subsidiar a elaboração de políticas públicas e a tomada de decisões pelo governo”, disse ele. McGrath ainda não morava no Brasil quando o Imazon foi fundado, mas participou ativamente dos cinco primeiros anos de atividades do instituto.
Com a fundação do Imazon em 1990, outros pesquisadores se reuniram à equipe de Chris Uhl, vindos do Pará e de outros estados. Recém-saídos da universidade, os rapazes e moças tinham 20 e poucos anos, estavam verdes e totalmente despreparados para a pesquisa de campo. Uhl chamou a si a tarefa de transformar aquele exército de Brancaleone num esquadrão de pesquisadores de nível internacional.
O americano mandava os alunos a campo em busca de um problema de pesquisa, que mais tarde era objeto de discussões exaustivas com o professor e os colegas. Perfeccionista, Uhl rejeitava a maioria dos problemas propostos. Desconstruía as ideias dos alunos e apontava os furos de raciocínio. “A pessoa entrava em exaustão, porque enquanto não definisse claramente o problema não ia adiante”, lembra-se Veríssimo. Muitas vezes o que faltava aos aprendizes era adequar o projeto aos recursos disponíveis. O sujeito que viesse com uma ideia muito ambiciosa ouviria: “Você precisa de milhões de dólares para responder a isso. Faça uma pergunta que caiba em 10 mil dólares e seis meses.”
O processo de definição de um problema de pesquisa podia demorar mais de um ano, segundo o relato do agrônomo Eugenio Arima, economista que se juntou ao Imazon em 1992. Falando por Skype de Austin, no Texas, onde atua como professor universitário, Arima disse que Uhl pedia projetos de pesquisa concisos e objetivos. “Em duas páginas você diz claramente qual problema pretende estudar e qual sua relevância. Em seguida explica como vai responder a essas perguntas em no máximo cinco páginas.”
Só depois de superado o trauma da formulação do problema é que os jovens iam a campo tocar a pesquisa. Com os resultados em mãos, a redação de um artigo era outro parto. Uhl exigia uma prosa segundo o padrão das melhores revistas técnicas. Como a universidade não havia preparado seus alunos para escrever artigos científicos, eles tiveram de aprender na marra. “As pessoas escreviam vinte, trinta versões antes de submeter o artigo para publicação”, disse Arima. “Nunca estava bom o bastante”, acrescentou a economista Oriana Almeida, que trabalhou na primeira fase do Imazon e hoje é professora da Universidade Federal do Pará.
Uhl dedicava parte importante de seu tempo a ler e comentar os manuscritos, que anotava copiosamente. “Ele dizia que estava muito bom, mas devolvia o texto todo vermelho”, riu Paulo Amaral. Certa vez o americano encontrou sua filha de 5 anos rabiscando um texto datilografado. Genny tratava de remendá-lo com uma caneta, imitando o pai – ora riscando, sublinhando ou circulando as palavras. Na quarta página se cansou: “Daqui em diante está tudo bom.”
Havia ainda as apresentações orais – o aluno tinha quinze minutos para expor os métodos e resultados de suas pesquisas, primeiro para o grupo, depois para uma plateia de leigos. Outro exercício consistia em resumir a pesquisa numa fala de trinta segundos – os pesquisadores precisavam estar treinados para vender seu peixe caso pegassem um elevador com uma autoridade. Uhl era implacável nas sabatinas. “Ele analisava cada slide”, contou Paulo Barreto. “Comentava desde a postura do estudante até o jeito de se vestir. Até hoje sou bem crítico com apresentações por causa do Chris.”
Os discípulos eram submetidos a treinamentos repetitivos e extenuantes cujo propósito não lhes era claro. Só mais tarde viriam a descobrir que haviam adquirido competência para cruzar dados estatísticos e imagens de satélite, esquadrinhar a economia do desmatamento ou redigir artigos científicos.
Os métodos draconianos do ecólogo deixaram lembranças vívidas no agrônomo baiano Rui Rocha, que se juntou ao Imazon pouco após sua fundação. Uhl sentou o aluno diante de um Macintosh e lhe disse para elaborar planilhas ao tratar de informações estatísticas. “Eu nunca tinha usado um computador antes”, contou Rocha numa entrevista telefônica. Depois, o americano lhe indicou uma mesa digitalizadora de mapas e lhe disse para usá-la. O aluno se apavorou com a complexidade da tarefa. “Rui, você quer desistir?”, perguntou o professor. “Volte para a Bahia e faça seu mestrado, está tudo bem.” O jovem tomou aquilo como uma provocação – o que de fato era – e deu conta do trabalho. Hoje é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e presidente de uma ONG ambiental que atua no sul da Bahia.
Apesar da mão de ferro, os membros do grupo se lembram de Uhl com saudade e admiração. Depoimentos que ouvi de nove ex-alunos descrevem-no como um sujeito modesto e generoso – e, acima de tudo, com enorme paciência e disposição para formar seus discípulos. A equipe não convivia apenas no ambiente de pesquisa. Professor e alunos comiam juntos, jogavam futebol, iam à praia. “Chris ia às festas que organizávamos e fazia churrascos em sua casa, mas não conseguia falar de outra coisa senão de trabalho”, contou a agrônoma baiana Mariella Uzêda, que integrou o Imazon até 1993 e hoje é pesquisadora da Embrapa no estado do Rio de Janeiro.
Um dos maiores êxitos do Imazon foi determinar áreas prioritárias para a criação de reservas ambientais, tarefa a que se dedicou na segunda etapa de sua trajetória. Estudos da ONG tinham mostrado que na Amazônia havia uma grande extensão de terras devolutas vulneráveis à grilagem. Com base nesses dados, o instituto tratou de apontar as áreas de maior risco e que seriam estratégicas para conter o avanço sobre a floresta.
“Propusemos a criação de mosaicos de unidades de conservação de vários tipos”, explicou Carlos Souza Jr., pesquisador do Imazon que coordenou o projeto por dois anos. O arranjo incluía desde áreas de proteção integral até zonas em que era possível desenvolver atividades sustentáveis de uso da terra. “Concentramos os esforços no ‘arco do desmatamento’, a linha de desenvolvimento agropecuário da região”, contou o pesquisador. “A ideia era segurar a fronteira e evitar o avanço especulativo.”
Numa série de trabalhos publicados a partir do fim dos anos 90, o grupo apontou trechos de floresta que o governo faria bem em proteger, mas também investigou as alternativas econômicas para as áreas a serem resguardadas. Esses estudos não foram desprezados quando o governo federal decidiu criar um grande número de unidades de conservação na Amazônia para combater o desmatamento. Entre 2003 e 2006, ele determinou que fosse protegida uma área de quase meio milhão de quilômetros quadrados, pouco menor que a Bahia, distribuída principalmente ao longo do arco do desmatamento, como recomendara a ONG. Num e-mail enviado à piauí, Marina Silva, que à época dessas demarcações era a ministra do Meio Ambiente, disse que o Imazon foi responsável por “significativas contribuições às políticas ambientais” desenvolvidas pelo governo.
A criação de áreas protegidas constituiu uma das espinhas dorsais do plano de combate ao desflorestamento da Amazônia que o governo Lula pôs em marcha em 2004. Naquele ano, a taxa anual de supressão da mata foi a segunda maior já registrada, com quase 28 mil quilômetros quadrados derrubados – uma área equivalente ao estado de Alagoas. O plano coordenou esforços de treze ministérios, a começar pela pasta do Meio Ambiente. Outro eixo envolvia a intensificação do uso de fotos de satélite para fiscalizar o corte da floresta. Monitorar o desmatamento por satélite é tarefa do Inpe, em São José dos Campos. A partir de 2004, o instituto passou a gerar, além da taxa anual de desflorestamento, boletins mensais que permitem documentar a derrubada praticamente em tempo real. Embora menos precisos que a estimativa anual, eles são úteis para orientar o controle e o combate dos possíveis focos de destruição da floresta.
“Até ali o combate era reativo: o órgão fiscalizador recebia denúncias e atuava”, explicou o economista Juliano Assunção, diretor de um núcleo de pesquisa sobre políticas climáticas na Pontifícia Universidade Católica do Rio. “Em 2004 ele passa a ser proativo, estimulado pela detecção em tempo real. Isso muda o jogo de maneira importante.” Um estudo do grupo de Assunção quantificou o impacto das diferentes políticas públicas para debelar o desmatamento e concluiu que a fiscalização com imagens de satélite foi a estratégia mais eficaz adotada pelo governo, tendo impedido a derrubada de uma área maior que a Paraíba.
O plano também incluía medidas que mordiam o bolso de importantes elos da cadeia do desmatamento. O governo fechou as torneiras para os donos de áreas com derrubada ilegal ao condicionar o crédito dos bancos públicos àqueles que fizessem a regularização ambiental de suas propriedades. Entre 2008 e 2011, quase 1 trilhão de reais deixaram de ser emprestados aos proprietários rurais da região. Seguindo a trilha do dinheiro, o Imazon já havia tornado patente o papel do crédito público como catalisador do desmatamento: subsídios estatais bilionários haviam financiado a substituição da floresta por pasto.
O cerco também se fechou a pecuaristas e agricultores que produziam em áreas de desmatamento ilegal: bois e terras foram confiscados, serrarias foram embargadas. Iniciativas como a moratória da soja, um pacto entre grandes agentes do agronegócio que boicotou a comercialização dos grãos plantados em áreas que desrespeitassem a legislação ambiental, também ajudaram a frear a derrubada da floresta.
A curva dos índices anuais de desflorestamento na Amazônia reflete o êxito do plano: em dez anos, o desmatamento passou de quase 28 mil quilômetros quadrados em 2004 para a casa dos 5 mil quilômetros quadrados em 2015, mesmo num cenário de aumento da produção de soja e gado na região (este ano a área derrubada voltou a aumentar, passando para 5,8 mil quilômetros quadrados, 16% a mais do que em 2014). Mas a queda do índice não traz de volta a floresta que veio abaixo. A Amazônia já perdeu 770 mil quilômetros quadrados, o equivalente a três estados do Piauí, ou quase um quinto de toda a floresta tropical que havia ali em 1500.
Numa quarta-feira de setembro, acompanhei Paulo Amaral a uma visita a Paragominas. O pesquisador, que participara do desenvolvimento do projeto-piloto de manejo na década de 90, queria mostrar a transformação que a cidade sofrera nos últimos anos. “Essa é a rua Monte Líbano, que antes era conhecida como a estrada das serrarias”, disse enquanto a caminhonete passava diante de uma série de instalações industriais desativadas. “Hoje a chamamos de cemitério das serrarias. Sobraram só doze com a atividade legalizada.”
Alguns donos de serrarias transferiram seu negócio para outras localidades na Amazônia, outros preferiram mudar de ramo. Uma delas foi convertida em fábrica de cerâmica; mais adiante, surgiu um frigorífico de pequenos animais. Amaral chamou a atenção para uma fábrica de MDF – chapas de fibra de madeira muito usadas na indústria moveleira – que uma família de madeireiros instalou na cidade ocupando o vácuo deixado pelo fechamento das serrarias. “Antes não havia fábrica para processar a madeira extraída daqui, saía tudo na forma de toras”, disse o agrônomo. “A fábrica trabalha com 45% da sua capacidade por falta de matéria-prima.” Paragominas também abriga, desde 2007, uma mina de bauxita – a terceira maior do mundo –, controlada por uma multinacional norueguesa.
Mais adiante, Amaral assinalou um trecho de mata à margem da estrada a poucos quilômetros do núcleo urbano, contíguo a uma área de pasto. “Aqui a floresta está se recompondo, note como o microclima já muda”, disse, chamando a atenção para a temperatura mais fresca em relação à do Centro. Aquela área havia sido explorada para a retirada de madeira no passado e agora estava em repouso. Onças foram avistadas por ali. “Os animais estão voltando, é um indicador claro de que a floresta está se recuperando.”
Quando o Ministério do Meio Ambiente divulgou em 2008 a lista dos municípios campeões de desmatamento na Amazônia, não surpreendeu a ninguém que Paragominas aparecesse com destaque. O então prefeito pediu ajuda ao Imazon para livrar o município daquela distinção duvidosa. Para tanto, a taxa anual de desmatamento teria que ficar abaixo de 40 quilômetros quadrados – Paragominas estava beirando os 100 quilômetros quadrados – e seria preciso proceder à regularização ambiental de suas propriedades.
Os pesquisadores da ONG orientaram a prefeitura sobre quais medidas tomar para alcançar a meta. Ao estudar a dinâmica do desmatamento na cidade, o grupo do Imazon constatou que, naquele momento, a atividade carvoeira era a que mais devastava – foi a deixa para que se proibisse a produção de carvão no município. O esforço deu frutos – não sem protestos de parte da população que perdeu o emprego – e dois anos depois Paragominas saiu da lista. “No ano passado, foram desmatados 19 quilômetros quadrados na cidade”, informou a secretária municipal do Meio Ambiente, Jaqueline Peçanha.
A partir do segundo semestre de 2014, o SAD – o sistema independente de monitoramento do desmatamento desenvolvido pelo Imazon – passou a ser o único a tornar públicos dados mensais sobre a devastação na Amazônia. Em novembro, o Inpe e o Ibama, órgão federal responsável pelo controle do desmatamento no campo, notificaram à imprensa que os informes mensais passariam a ser divulgados apenas trimestralmente. Alegaram que a medida pretendia proteger os fiscais e não favorecer os infratores ao apontar os possíveis focos de investigação. Sob esse pretexto, o governo segurou até depois do segundo turno a informação de que o monitoramento em tempo real acusava um aumento de 122% na área derrubada em agosto e setembro daquele ano em comparação com o mesmo período no ano anterior – índice que poderia prejudicar a candidatura de Dilma Rousseff à reeleição (os dados do SAD, divulgados sem atraso, apontaram um aumento de 191% para o mesmo período).
O engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador da iniciativa independente para calcular as emissões brasileiras de gases do efeito estufa, fez uma careta quando evocou a decisão do governo. “Não faz sentido, fazer com transparência teria sido melhor”, afirmou, enquanto tomava um suco num fim de tarde em São Paulo. Azevedo notou que, com essa medida, o SAD se tornou a única fonte disponível de dados atualizados sobre a dinâmica do desmatamento.
Lançado em 2007, inaugurando uma nova fase de atuação da ONG, o sistema de monitoramento do Imazon analisa imagens de satélite distintas das que o Inpe emprega para o seu cálculo publicado anualmente. O número oficial deriva de dados colhidos pelo satélite Landsat, da Nasa, capaz de capturar imagens em que cada pixel corresponde a um quadrado com 30 metros de lado. Já o sistema do Imazon adota imagens do Modis, sensor embarcado em outro satélite americano, com resolução menor: seus pixels representam quadrados com 250 metros de lado. O sistema do Imazon é útil por indicar possíveis regiões onde o desmatamento estaria acontecendo naquele momento, mas não deve ser usado para o cálculo da taxa consolidada. “O papel do SAD é manter a pauta na opinião pública, na mídia, nos agentes de fiscalização”, disse Beto Veríssimo.
Numa entrevista dada este ano, Izabella Teixeira voltou a criticar as projeções de desmatamento anual feitas pelo Imazon. Com agenda cheia às vésperas da reunião do clima de Paris, a ministra não recebeu a piauí.
“Ter monitoramentos independentes é importante, o que não se pode fazer é usar esses dados de forma equivocada”, disse numa entrevista telefônica o ecólogo Francisco Oliveira, que dirige o departamento do Ministério do Meio Ambiente responsável pelo combate ao desmatamento na Amazônia. Oliveira criticou as comparações recorrentes feitas pelo Imazon e pela imprensa entre os números dos boletins mensais de alerta do SAD e a taxa anual consolidada de desmatamento. “Não dá para comparar laranja com banana, e isso vem sendo feito corriqueiramente. Estão informando mal a sociedade brasileira.”
Mas no governo federal há quem veja o Imazon sob luz menos desfavorável. Falando por telefone de Brasília, o economista Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, citou iniciativas em que o governo e a ONG trabalham em parceria e destacou a importância do SAD. “O monitoramento deles mantém o governo permanentemente em xeque”, afirmou. “Temos que fazer o melhor possível, porque eles estarão fazendo o mesmo.”
O principal nome por trás do SAD é Carlos Souza Jr., um belenense de 48 anos que está no Imazon desde 1993. Depois de atuar em projetos que exigiam a integração de dados estatísticos e mapas da Amazônia, convenceu-se de que era preciso trabalhar com sensoriamento remoto, como é chamada a disciplina que se ocupa da análise de imagens de satélite. Tratou de se capacitar para tanto, com um doutorado na Califórnia. O movimento representou uma guinada na carreira do geólogo de formação. “Eu tinha sido treinado para explorar petróleo e virei um cara de pixels”, disse ele em setembro, no gabinete de onde comanda a equipe do SAD.
Em 2008, Souza Jr. assistiu em Brasília a uma apresentação da cientista da computação Rebecca Moore, do Google. Ela mostrava como os índios suruí, de Rondônia, estavam defendendo seu território de invasões e grilagem com a ajuda das imagens do Google Earth. Como outros engenheiros do gigante do Vale do Silício, Moore podia dedicar 20% de seu tempo de trabalho – um dia da semana – a projetos pessoais. O dela consistia em promover entre os ambientalistas o uso das ferramentas que desenvolvia.
Em novembro Moore concedeu à piauí uma entrevista por teleconferência, diretamente de uma ampla sala de reuniões na sede do Google, em Mountain View. Contou que ao final de sua fala em Brasília foi abordada por Souza Jr. – o pesquisador, embora fascinado por sua plataforma, não a julgava eficaz o bastante. As imagens mostravam um quadro estático do território – bom mesmo seria se retratassem a transformação da paisagem com o passar do tempo, o que permitiria medir o desmatamento. Moore não estaria disposta a incluir na plataforma uma ferramenta para processar as imagens de satélite? Seria um sonho: uma tarefa computacional que consumia uma quantidade prodigiosa de tempo e recursos nas máquinas do Imazon passaria a ser feita na nuvem, na rede de dezenas de milhares de servidores do Google. “Com nossa infraestrutura só podemos processar um pequeno volume de dados de cada vez, e a análise leva semanas”, o paraense explicou à americana. “Quando chegamos aos resultados já é tarde demais, o que aconteceu, aconteceu há um mês.”
Moore levou a ideia do brasileiro a sério. “Esse é um problema com a escala do Google”, pensou consigo mesma. Convidou uma equipe da ONG para conhecer a sede de sua empresa e juntos começaram a desenvolver o Earth Engine, ferramenta lançada em 2012, por ocasião da conferência Rio+20. Carlos Souza Jr. e Gilberto Câmara, especialista em sensoriamento remoto do Inpe, contribuíram para a elaboração da plataforma. Com a entrada em operação do SAD 2, o tempo gasto para emitir os alertas de desmatamento caiu pela metade, e a equipe do Imazon pôde se dedicar a tarefas mais produtivas. “Agora podemos gastar o tempo com inteligência, aplicando conhecimento para extrair informação das imagens”, disse Souza Jr.
A Amazônia brasileira representa um terço das florestas tropicais do mundo, mas é a única em que o desmatamento é monitorado mensalmente. O Brasil é referência mundial quando o assunto é calcular a derrubada de florestas com a ajuda de satélites. Souza Jr. é regularmente chamado a fazer oficinas e assessorar técnicos estrangeiros. A ONG interage de perto com outros países amazônicos e participou da elaboração de um mapa de desmatamento para a Pan-Amazônia. “O Imazon está ajudando a monitorar 1 bilhão de hectares de florestas tropicais no mundo”, disse Beto Veríssimo.
O Brasil está começando a ampliar a área monitorada por satélites. Em novembro, o Imazon e outras instituições brasileiras lançaram uma iniciativa que adota a tecnologia do SAD 2, com a infraestrutura do Google, para rastrear o desmatamento de todos os biomas brasileiros, não só a Amazônia. O primeiro fruto do trabalho é uma série de oito mapas do Brasil com dados detalhados sobre a perda de vegetação em todo o território nacional entre 2008 e 2015.
OImazon é financiado sobretudo pelo aporte de fundações estrangeiras, como MacArthur, Moore, Ford ou Skoll. Segundo Beto Veríssimo, cerca de um terço dos recursos obtidos entre 2010 e 2014 é de capital nacional, incluindo aí o dinheiro do Fundo Amazônia, que tem origem norueguesa e é administrado pelo BNDES. As atividades da ONG não costumam atrair grandes empresários locais. “O PIB brasileiro quase nunca visita a Amazônia”, disse o pesquisador, que atribui a minguada presença de doações nacionais à falta de incentivos fiscais e de uma cultura local de filantropia. O orçamento do instituto para 2014 foi de 13,7 milhões de reais.
A instituição ocupa dois andares de uma torre em Belém. Acaba de passar por um enxugamento de pessoal: dos cerca de setenta funcionários que trabalhavam ali em 2013, restaram quarenta, sendo quinze deles pesquisadores e oito estagiários. Veríssimo apresentou o remanejamento como uma decisão estratégica: além do alto custo da folha de pagamento, o inchaço da equipe estava dispersando esforços e inibindo a inovação. “Para estar sempre à frente, tomamos a decisão de não crescer e não abraçar tarefas que outras organizações possam assumir”, alegou.
Parte da identidade do Imazon se construiu em contraponto à cultura universitária. A ideia era estruturar o pensamento em torno de problemas, e não mais em torno de disciplinas, como a academia estava acostumada a tratá-los. A hierarquia nunca foi importante na ONG: as boas ideias valem mais que títulos ou credenciais acadêmicas. “O Imazon não tem biblioteca, curso de pós-graduação ou estrutura formal”, disse Carlos Souza Jr. – dos quatro pesquisadores seniores do instituto, o único com doutorado. “Esse é o papel da universidade. As conexões e redes que estabelecemos são mais importantes para nós hoje.”
Numa noite no início dos anos 90, em Belém, Chris Uhl foi ao cinema para levantar o astral depois de um dia de registros funestos de uma operação madeireira. O filme era Uma Linda Mulher, em que Richard Gere interpreta um executivo que se apaixona por Julia Roberts, uma prostituta, e a cobre de luxo e presentes. Em vez de embarcar na comédia romântica, Uhl enxergou na fita “a glorificação de todo um meio de vida baseado no materialismo e nas relações rasas”, conforme escreveu mais tarde num ensaio autobiográfico.
“Eu estava apontando o dedo para a Amazônia e de repente o problema estava debaixo do meu nariz”, disse ele em outubro ao evocar o episódio. O americano pensou como poderia transformar aquela que era, afinal, a cultura de seu próprio país. Ocorreu-lhe que, se voltasse a Penn State, teria como promover práticas mais sustentáveis em sua universidade – já era um começo.
Os jovens que Uhl vinha treinando tinham adquirido musculatura acadêmica. Paulo Barreto havia feito o mestrado em Yale; Beto Veríssimo e Carlos Souza Jr., na Penn State; Paulo Amaral completaria o seu na Costa Rica, padrão-ouro da biologia da conservação em florestas tropicais. “Eles já tinham uma expertise além do meu nível, eram capazes de fazer coisas que eu não sabia”, contou o ecólogo. Seu trabalho ali estava encerrado.
“A melhor contribuição que posso dar ao Imazon agora é me afastar”, disse o americano a Paulo Amaral no dia em que comunicou sua decisão. “Vocês têm que dar conta de tocar a instituição sozinhos.” Amaral, diretor do Imazon em 1996 – ano em que Uhl voltou para os Estados Unidos –, usou a imagem do corte do cordão umbilical quando falou da partida do mentor. Num ensaio sobre a figura do professor, o crítico literário George Steiner põe a coisa de outra forma: “O verdadeiro mestre termina sozinho.”
Ao fazer um balanço sobre os 25 anos do Imazon, Toby McGrath – um de seus fundadores – destacou o papel da entidade para consolidar um novo modelo de atuação das ONGs durante a redemocratização. “Elas eram vistas naquele momento como organizações que gostavam de jogar bomba, mas não tinham coisas muito concretas a propor”, disse o geógrafo. “O Imazon teve papel pioneiro ao propor soluções e não só criticar e fazer denúncia.” Não eram os únicos, completou, mas era o início de uma nova geração de ONGs. McGrath destacou que a ênfase na observação empírica praticada por seus ex-colegas constituía a grande novidade. “Essa metodologia poderosa gerou dados importantes e abriu caminhos para definir políticas e o caminho para o manejo sustentável.”
Mas o geógrafo também tem ressalvas à atuação do instituto que ajudou a criar. A ONG pecaria pela proximidade demasiada com o governo do estado e prefeituras do Pará. “Não vejo artigos do Imazon criticando políticas públicas”, disse. “Eles trabalham para desenvolver políticas públicas para o setor florestal, mas não conheço trabalho deles que critique a política florestal anterior.”
As críticas de McGrath encontram ressonância na comunidade científica amazônica. Uma pessoa que preferiu não contribuir para esta reportagem alegou num e-mail que tomava essa decisão por achar que o Imazon há muito deixou de ser uma organização não governamental. Atuaria hoje quase como um órgão de assessoria ao governo estadual de Simão Jatene, do PSDB, definindo a agenda ambiental paraense.
Toby McGrath se desligou do Imazon cinco anos após sua criação. Quando o entrevistei em novembro, ele disse ter -saído por não mais se identificar com os princípios do instituto, os quais lhe pareciam excessivamente centrados na produção de informação científica. Conversou com outros colegas e delineou outra ONG que atuasse também em frentes diferentes – o Ipam, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, lançado em Belém em 1995. “O Ipam combina elementos de pesquisa com a mobilização”, explicou.
Convidado a lançar um olhar de síntese sobre a instituição que criara, Chris Uhl fez uma longa pausa para dizer, com serenidade, que estava admirado. “Nunca imaginei que ela se tornaria um dentre vários catalisadores importantes para começar a virar uma situação que naquela época me parecia irremediável.”
Beto Veríssimo costuma dizer que o êxito do Imazon deve ser medido não em termos de output – os trabalhos produzidos por seus pesquisadores –, mas sim de outcome – os desdobramentos por eles desencadeados. O output é fácil de medir: são mais de 700 publicações em 25 anos. A lista inclui artigos científicos em revistas de ponta, mas também material numa série de outros suportes, como livros, cartilhas e relatórios. “Os papers são lidos por pessoas distantes dos tomadores de decisão, por isso também temos que ter publicações em linguagem acessível”, justificou a bióloga Andréia Pinto, atual diretora executiva do Imazon.
Mensurar o outcome é mais complicado. Os projetos da ONG contribuíram para o esforço de combate ao desmatamento nas últimas duas décadas, seja fundamentando a elaboração de novas leis ou políticas públicas, seja trabalhando em parceria com governos ou mobilizando a sociedade e agentes econômicos importantes. “Não diminuímos o desmatamento, mas demos o know-how”, disse Veríssimo. “Nossa ideia é mostrar aos governos das várias esferas o que pode ser feito, mas a tomada de decisões está nas mãos dos agentes públicos.” Marina Silva destacou também o fato de o Imazon ter “contribuído muito para formar uma geração de pesquisadores amazônidas de alto nível”.
O procurador Ubiratan Cazetta é um paulista de 47 anos radicado há vinte no Pará. Está no Ministério Público Federal desde 1996 e concentra seu foco de atuação em questões ambientais. Perguntado sobre como o Imazon contribuiu para influenciar políticas públicas, citou, dentre outros trabalhos, um estudo sobre a exploração do mogno que levou à proibição do seu manejo no país e outro que apontou a ineficácia da punição a crimes ambientais na Amazônia, motivando uma revisão desses procedimentos. Desde 2010 o procurador é membro do Conselho Fiscal do Imazon – cabe-lhe examinar as contas da instituição e zelar para que dependam de um conjunto diverso de fontes.
Há quinze anos Chris Uhl não vem ao Brasil. Afora o contato esporádico com alguns ex-discípulos do Imazon, ele cortou os laços com os anos que viveu no país. Disse que ainda entende a língua e se vira se for preciso conversar, mas não se aventurou a dizer uma palavra em português nos dias que Beto Veríssimo e eu passamos em State College. Um ano e meio atrás, Uhl foi convidado para um evento da série TED em Brasília. “Não preciso atravessar meio mundo para falar por quinze minutos”, pensou, e recusou. O ecólogo evita pegar avião desnecessariamente, usa bicicleta para se deslocar de casa até o campus e tem um carro híbrido que pode ficar semanas sem sair da garagem. Melhorou a eficiência energética de sua casa e planta quase tudo o que come numa horta de 400 metros quadrados nos fundos do terreno.
Um ponto de inflexão na carreira de Uhl veio no início do século, quando o ecólogo tirou um ano sabático em Seattle, na Costa Oeste dos Estados Unidos. Na volta, desfez o casamento de 29 anos e decidiu abandonar a pesquisa para se dedicar integralmente ao ensino. Uhl disse que perdeu o apetite por fazer ciência e que se sentia quase alheio aos artigos que havia escrito anos antes. Por outro lado, estava inspirado para a sala de aula e queria rever substancialmente sua postura como professor. A universidade não criou caso, mas não lhe dá aumento há quinze anos. Como professor em tempo integral, continua movido pela disposição em transformar jovens.
Uhl se casou de novo com Dana Stuchul, ex-professora de química do ensino médio que hoje dá aula em Penn State. Estava com 57 anos quando tiveram Katie, em 2006. Vez por outra pode ser visto nas reuniões dos quakers, às quais comparecia com mais frequência durante o primeiro casamento. Os quakers são uma dissidência pacifista do anglicanismo que prega a “ação direta não violenta”. Seus rituais pouco lembram o de outras igrejas cristãs, a começar pelo silêncio dos cultos em que os fiéis se reúnem para refletir. Qualquer um pode romper o silêncio se sentir que tem algo inspirador a dizer – Uhl disse que frequentou os encontros por dez anos e nunca abriu a boca.
Em 2013, Uhl lançou a segunda edição de Developing Ecological Consciousness, escrito doze anos antes. Fez praticamente um livro novo, após cortar muitas passagens, reestruturar os capítulos e incluir novo material. As mudanças começam já no subtítulo, que, no original, era “O caminho para um futuro sustentável”. O autor suprimiu o conceito de sustentabilidade na nova edição. Os ambientalistas empregam o termo para designar a conciliação entre o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente. Mas o ecólogo notou que esse conceito anda diluído e cooptado para propósitos duvidosos. “Ele traz a noção de que o que queremos sustentar é o status quo e não questiona os pressupostos que guiam nossa cultura”, disse. “O que queremos sustentar? Essa é a questão clássica que não está sendo atacada.”
Desde 1983 Uhl é o responsável pela disciplina Biologia III – Ciências Ambientais, uma cadeira oferecida a alunos de humanidades que ele prefere chamar de “Despertar I”. As aulas acontecem às segundas e quartas num. grande auditório com capacidade para mais de 300 pessoas. O professor dá aula com um discreto microfone acoplado à orelha, prancheta na mão esquerda e, na direita, o controle dos slides projetados num telão a suas costas. É performático, sobe e desce os corredores do auditório e interrompe a aula para fazer perguntas aos estudantes. Controla com rigor a passagem dos cinquenta minutos.
O tema da aula daquela segunda era “Dos sentimentos à ação”. Uhl discutiu o possível impacto sobre a saúde e o meio ambiente provocado pelos milhares de compostos químicos sintéticos que agora circulam livres pelo planeta. Abordou o tema a partir da história de vida de quatro mulheres que, cada uma a seu modo, ajudaram a levantar suspeita de que algumas dessas substâncias podiam levar a vários tipos de câncer, causar perturbações hormonais e comprometer a fertilidade. Haviam lutado para ser ouvidas e trazer sua denúncia a público. “O que essas quatro pessoas têm em comum?”, quis saber o professor no fim da aula. Ele próprio respondeu: eram todas mulheres destemidas, não necessariamente extraordinárias. “E todas elas fizeram perguntas.”
Leia Mais