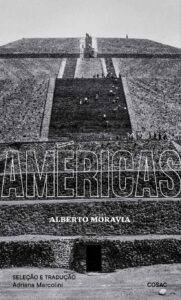As melhores leituras de 2025
Quinze jornalistas da piauí indicam obras lançadas no ano que termina
INDICAÇÃO DE ALEJANDRO CHACOFF
Um dos paradoxos da globalização é seu provincianismo. O mundo nunca esteve tão conectado, e ao mesmo tempo nunca pareceu tão indiferenciável. Lugares em extremos opostos do planeta são tratados com o mesmo tipo de jargão gastronômico, a mesma curiosidade banal e pecuniária. Quanto custa alugar uma casa ali, de frente para o mar? Com quantos dólares se faz uma compra de mercado? Influenciadores vagam, de Atenas a Zanzibar, filmando decotes na rua e provando os mesmos doces e sanduíches.
Não devo ser o único sedento por relatos de viagens mais inspirados, que evoquem a nossa multiplicidade e o frisson de deixar um país ou continente em busca de outro. O escritor italiano Alberto Moravia é taciturno, ocasionalmente chauvinista, e possui um esnobismo europeu incorrigível. Mas seus relatos de viagens em Américas têm a qualidade crucial de serem só seus, produtos de uma inteligência senciente que mistura precisão observacional e elaborações teóricas às vezes duvidosas, mas nunca entediantes. Organizada e traduzida para o português por Adriana Marcolini, a coletânea publicada pela Cosac reúne 42 textos que Moravia escreveu para a imprensa italiana sobre suas viagens pelo continente americano. O artigo mais antigo é de 1936; o mais recente, de 1970. Há relatos sobre os Estados Unidos, México, Cuba, Guatemala, Bolívia, e Brasil.
Os prédios cinzentos no ar límpido de Nova York geram uma ilusão de unidade e organização, mas trata-se de uma “cidade oriental, levantina, babilônica. […] Como um corpo enorme em que não existe nada além dos aparelhos digestivos, Nova York engole lindas mulheres inocentes, inteligências lúcidas, materiais preciosos como madeiras raras […] e devolve prostitutas, livros de insípida vulgarização, horríveis jornais escandalosos e cem mil objetos, do arranha-céu ao lenço, todos efêmeros, provisórios e fabricados em série.” Sobre uma parada de trem na fronteira mexicana: “Descia-se nessas estações para estirar um pouco as pernas; soprava um vento baixo e sibilante como o que existe apenas nos territórios despovoados, onde o vento parece ser o dono e o único morador.” Observando a matança industrial de animais em Chicago, Moravia escreve: “Um boi saído do estábulo pelo cabresto do camponês [..] provoca só pena, mas milhares de bois reunidos dentro das fileiras de estacas de Stock Yard à espera do golpe do facão e, imediatamente depois, à espera das várias máquinas produtoras que dividirão a carne em muitos vidros alegremente multicoloridos, fazem refletir e inspiram um sentimento de vazio e de arrepio paradoxal.”
Os textos têm o gosto dos relatos de viagens sinceros, despachados durante uma bebida no hotel, ao entardecer, depois de um dia cansativo de andanças. Para o leitor brasileiro, é um exercício interessante se enxergar através dessas lentes. As imagens do nosso país às vezes surpreendem. Brasília, vista do avião no ano de sua fundação, em 1960, leva Moravia a “pensar em um monte de bifes ensanguentados expostos no balcão de um açougueiro”. Mas o olhar estrangeiro também nos tira do conforto da familiaridade, gerando um novo tipo de apreciação pelos arredores. Escrevendo sobre Belo Horizonte e o “fascínio melancólico da antiga sociedade colonial” encontrado nas sacristias, Moravia define o azulejo como “uma das mais belas criações da civilização ibérica” – não por causa da inspiração religiosa, mas sim pelo “sopro humanista, tão amável e floreado: mitos gregos e romanos, história sacra, vida dos santos, tudo está coberto por um manto renascentista, iluminado pelo Sol do Mediterrâneo e transformado em aventura humana.”
INDICAÇÃO DE AMANDA GORZIZA
Em 2025, Aline Bei completou oito anos de carreira com o lançamento do seu terceiro livro, Uma delicada coleção de ausências. Assim como em seu romance de estreia, O peso do pássaro morto (publicado originalmente em 2017 e relançado neste ano pela Companhia das Letras), e no segundo romance, Pequena coreografia do adeus, a nova obra aborda o feminino: a maternidade e a infância com suas dores, seus segredos e suas injustiças. É a história de quatro gerações de mulheres que atravessam um universo de traumas.
O romance se concentra na relação da avó Margarida com sua neta Laura. Enquanto a senhora lê mãos numa feira da cidade para prover o sustento da família, a jovem está na transição da infância para a adolescência. Margarida não tem contato com a própria filha, Glória, mãe de Laura – e essa é uma das ausências centrais referidas no título. Mas Laura não se sente abandonada – de certa forma, a ausência da mãe é o que une ainda mais avó e filha. Até que a rotina delas se quebra com a chegada da bisavó Filipa, que perdeu sua moradia e veio viver com elas.
A obra completa o que Bei chama de trilogia involuntária, e o livro carrega algumas mudanças estilísticas perceptíveis desde que a autora surgiu na cena literária, quando seu romance de estreia venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, em 2018. O ritmo narrativo e a prosa poética pela qual a escritora ficou conhecida – repleta de pausas através da pontuação, diferentes tamanhos de fonte e espaçamento diferenciado – continuam presentes na nova obra, mas há frases bem mais extensas, e o que não é dito – as ausências, por assim dizer – importa tanto quanto (ou até mais) do que é falado. A formação de Bei em artes cênicas aparece também neste livro através das narrações e dos diálogos, que evidenciam o volume, o tom da voz, a ambientação e as ações das personagens, assim como em um texto teatral.

INDICAÇÃO DE ARMANDO ANTENORE
A arquivista Sara Hussein está voltando de uma viagem internacional e não vê a hora de reencontrar a família. No aeroporto de Los Angeles, aguarda que os funcionários da imigração a liberem. “Parece que vai demorar”, reclama para o marido, o fonoaudiólogo Elias Rosales. Ele troca mensagens com a mulher pelo telefone enquanto procura uma vaga no estacionamento do aeroporto.
Os trâmites imigratórios realmente demoram. Quando terminam, a arquivista de 37 anos recebe a notícia de que será presa. Mas por quê? Mãe de dois bebês gêmeos, Sara viaja com frequência e nunca contrabandeou nada, mantém um bom emprego, não abusa de drogas nem se mete em brigas. As autoridades explicam que os algoritmos indicam que há um risco alto de Sara vir a cometer um crime em breve e, por isso, precisam detê-la por precaução. A recém-chegada continua sem entender. “Um crime?! Qual?”, pergunta. Agredir o próprio marido.
Eis a premissa de O hotel dos sonhos, quinto romance de Laila Lalami, traduzido para o português por Laura Folgueira. O livro da escritora marroquina-americana saiu em março e logo ganhou aplausos por demonstrar para onde o mundo pode caminhar se as tecnologias digitais que monitoram os indivíduos não tiverem freio. A trama ocorre num futuro não muito remoto, vinte anos depois de um massacre traumatizar os Estados Unidos. Durante uma competição esportiva em Miami, um “lobo solitário” assassinou 86 pessoas enquanto a CBS transmitia o evento e outras 32 assim que a emissora interrompeu a exibição. Milhões de espectadores testemunharam a fúria do atirador. Pressionado pela indignação popular, o Congresso aprovou uma lei – ainda em vigor – que amplia o controle do governo sobre a sociedade. O Estado agora dispõe de carta branca para colher, guardar e analisar informações privadas de qualquer cidadão. O intuito é quantificar a chance de alguém cometer atos ilícitos.
Caso a probabilidade se revele alta, o criminoso em potencial amarga pelo menos 21 dias num “centro de retenção” (eufemismos permeiam todo o sistema de vigilância). Lá o “residente” deve cumprir uma série de normas, trabalhar sem remuneração e passar por avaliações periódicas. Quando julgam que o “participante do programa” se comportou bem e conseguiu baixar o “score de risco”, os responsáveis pelo rastreamento o libertam. Uma eficaz sinergia do governo com empresas de diferentes ramos permite que a engrenagem funcione.
Enviada para um “centro de retenção” numa cidadezinha da Califórnia, Sara vira refém de burocracias e arbitrariedades. Insubmissa, não aceita parte das regras locais e permanece sob custódia por muito tempo. Ao longo da via-crúcis, descobre que o Estado vigiava inclusive os sonhos dela. É por isso que acabou detida – porque sonhou com situações que ameaçavam Elias.
O livro, narrado em terceira pessoa, evoca dois clássicos da literatura distópica: o romance 1984, de George Orwell, e o conto Minority report, de Philip K. Dick. Também remete à atmosfera claustrofóbica e absurda que marca a ficção de Franz Kafka. No futuro antevisto por Laila Lalami, nem mesmo o inconsciente – a última fronteira da liberdade – está isento de patrulha.

INDICAÇÃO DE BERNARDO ESTEVES
O contato dos indígenas com a sociedade brasileira costuma ser contado do ponto de vista dos brancos. No livro Raoni – Memórias do cacique, temos o privilégio de ver essa história narrada pela perspectiva de Ropni Mẽtyktire, um dos maiores líderes indígenas da história do Brasil. Quando Ropni – nome do cacique em sua língua materna – era adolescente, seu povo foi contatado pelos irmãos Cláudio e Orlando Villas-Bôas, sertanistas que capitanearam a criação do Parque Indígena do Xingu e foram aliados importantes na luta pelos direitos dos povos originários.
O líder indígena nascido em 1937 circula nas esferas de poder há pelo menos seis décadas. Em 1960, ano da fundação de Brasília, ele se encontrou com Juscelino Kubitschek. O presidente apresentou a Raoni o projeto de transformar a ilha do Bananal, no atual estado do Tocantins, num polo turístico e agropecuário. Foi enquadrado pelo cacique. “Você já fez uma cidade pros brancos. A Ilha do Bananal é dos indígenas”, alegou Raoni. JK acabou recuando.
Raoni conversava regularmente com José Sarney, e durante o mandato presidencial do maranhense atuou pelo reconhecimento dos direitos dos indígenas na Constituição de 1988. Nessa época, aliou-se ao roqueiro britânico Sting, com quem rodou o mundo a fim de arrecadar recursos para a demarcação de terras indígenas. O cacique também tinha bom diálogo com Fernando Collor, que demarcou a Terra Indígena Yanomami – a maior do Brasil, do tamanho de Santa Catarina. Jair Bolsonaro e Michel Temer foram os únicos presidentes da Nova República que não receberam Raoni.
Uma das batalhas mais importantes do cacique foi travada contra o represamento do Rio Xingu – que seu povo chama de Bytire – para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Sua mobilização conseguiu barrar o projeto original planejado durante a ditadura, mas Lula decidiu, no fim de seu segundo mandato, construir uma versão menor da usina. O cacique encontrou Lula antes de subir a rampa com ele em sua volta ao Planalto, em 2023, e avisou: “Você não pode repetir os erros do passado.”
O relato das conversas do cacique com presidentes e celebridades oferece uma nova perspectiva para episódios que os leitores talvez conheçam pela imprensa. Mas a dimensão mais rica e surpreendente de sua autobiografia talvez venha dos episódios da vida cotidiana: a infância na aldeia, o ritual de passagem para a vida adulta, a rotina de caça e pesca. O livro relata ainda a jornada de Raoni até se tornar um pajé – uma dimensão sua menos conhecida pelo público – e abre uma janela fascinante para o universo espiritual de seu povo.
O texto de Memórias do cacique foi elaborado a partir de conversas de Raoni com seus netos na língua mebêngôkre. A edição conta com mapas, um glossário e uma cronologia que ajudam a situar os episódios evocados pelo autor. Na esteira do sucesso de obras de líderes indígenas como Davi Kopenawa e Ailton Krenak, é um lançamento fundamental para quem quiser entender a identidade do Brasil no século XXI.
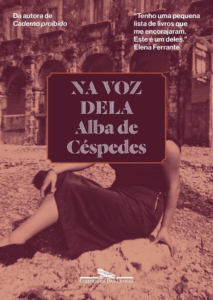
INDICAÇÃO DE CAMILLE LICHOTTI
No final da década de 1940, em conversa com seu editor, a autora ítalo-cubana Alba de Céspedes definiu assim o livro que estava escrevendo: “Uma história de amor, mas vista dalla parte di lei (segundo ela)”. Estava decidido o título em italiano do romance Na Voz Dela, originalmente publicado em 1949 e traduzido neste ano para o português por Joana Angélica d’Avila Melo.
Escrito em primeira pessoa, o livro de fato narra a história de amor entre a jovem italiana Alessandra Corteggiani e Francesco Minelli. O relato, porém, não começa com o primeiro encontro do casal nem se restringe à vida conjugal. Alessandra primeiro conta sua própria história, a começar pela infância num bairro pobre de Roma, onde cresceu à sombra do irmão mais velho Alessandro, morto por afogamento meses antes de ela nascer. Desde então – incluindo o nome que lhe foi dado –, Alessandra é assombrada pela recordação indelével desse “irmãozinho defunto”, como um alter ego obscuro. Dominada pelo espírito masculino do irmão, a narradora atribui à presença dele os maus pensamentos que tem e as ações reprováveis e maléficas que pratica.
A relação mais interessante do livro, porém, é entre mãe e filha. Eleonora é uma pianista bonita e cheia de vida que está encerrada num casamento com um homem medíocre e autoritário. Quando contrariado, Frederico tem o costume de levar o dedo indicador à têmpora e girá-lo como se fosse um parafuso – um gesto silencioso que usava pelo prazer de irritar sua mulher e sua filha, rebaixando-as à condição de loucas.
Em uma das casas abastadas onde leciona piano, Eleonora se apaixona por um jovem violinista, iniciando um romance que desencadeia uma verdadeira operação da rede de mulheres do condomínio para proteger o segredo e ajudá-la a driblar a desconfiança do marido. Alessandra, que já adorava a mãe como uma figura divina, aproxima-se ainda mais dela durante esses meses de rebeldia.
Nesta parte do livro, o leitor é apresentado a um catálogo fascinante da relação entre aquelas mulheres. Das varandas, elas protegem-se umas às outras e, em silêncio, compartilham o tédio e as aflições do confinamento domiciliar. Naquele microcosmo, escreve a autora, “uma solidariedade mais forte que o parentesco as ligava”. Ao longo da obra, Céspedes percorre com naturalidade o complexo tema da amizade feminina. (Não por acaso, o livro serviu de inspiração para Elena Ferrante escrever sua tetralogia napolitana.)
Eleonora a certa altura se suicida. Após ser enviada para uma aldeia remota, Alessandra volta a Roma para cuidar do pai e servir-lhe como empregada doméstica. Tudo isso ocorre em meio à guerra, na Itália dominada pelo terror fascista. Alessandra, ao mesmo tempo que enfrenta seu inferno particular, lida com o horror dos bombardeios e o desaparecimento inexplicável de amigos antifascistas. A história de amor entre ela e Francesco, um professor universitário antifascista, ocupa menos da metade do livro, apesar de ser um evento crucial na vida da protagonista.
O trecho que mais me marcou é aquele em que Francesco, o noivo, vai à casa de Alessandra pedir a Frederico a mão de sua filha em casamento. Conversaram a sós, mas Alessandra percebeu de imediato a cumplicidade entre os dois homens. “Quando entrei, meu pai estava justamente falando daquele terreno, e me pareceu que negociavam a venda de um animal”, conta a narradora. “Meu pai acrescentou que eu era uma dona de casa razoável e que, no escritório, ganhava bem. Francesco riu. Odiei os dois. Servi-lhes café com rancor. Ao sair, Francesco disse: ‘É um bom homem’, e eu fechei a porta como fecharia para um estranho.”
Céspedes descreve com vivacidade o momento exato em que o encanto se desfaz e Alessandra testemunha o acordo tácito entre os homens, que se reconhecem como aliados e subjugam as mulheres. O casamento com um homem gentil parecia representar a salvação da realidade opressora de Alessandra sob a tutela do pai, mas a nova vida apresenta-se apenas como outro tipo de frustração. Por outras vias, Alessandra acaba cumprindo o mesmo destino de sua mãe e de sua avó – e provavelmente de toda a linhagem materna: vê sua história de amor terminar em uma tragédia digna de profecia grega.
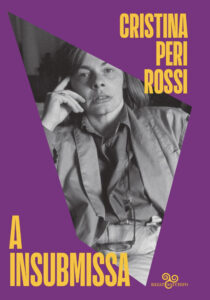
INDICAÇÃO DE DANILO MARQUES
A literatura tem ondas. Nos últimos anos, livrarias foram ocupadas por uma avalanche de autobiografias romanceadas (chamadas, convencionalmente, de autoficções). O problema do gênero foi bem captado pelo escritor José Falero, no ensaio Murro em ponta de faca, publicado na edição de novembro da piauí: todo ser humano, potencialmente, tem boas histórias para contar – não é por isso que todas essas histórias têm força literária.
A insubmissa, da poeta uruguaia Cristina Peri Rossi, é um caso notório em que a boa história autobiográfica se combina a uma extrema habilidade literária. O livro foi publicado em 2020 em espanhol, e agora chega ao Brasil traduzido por Anita Rivera Guerra, que publicou na piauí uma apresentação da autora aos leitores brasileiros – na ocasião da consagração do Prêmio Cervantes de 2021.
O primeiro capítulo foca numa questão que inquietava Peri Rossi quando ela era apenas uma criança. Ela queria se casar com a própria mãe, antes de saber que a lei proíbe o casamento entre pais e filhos e antes de entender o que era um casamento. Tratava-se de paixão e muito desejo – palavra que vai acompanhar não só a infância da autora, bem como toda a sua juventude. As questões políticas (sobretudo na questão de gênero) pipocam do início ao fim da autobiografia. A rebeldia é um sentimento elementar, desencadeada por uma feroz vontade de saber – daí o título do livro.
Mesmo crescendo, persiste em Peri Rossi um olhar inocente. Depois de se apaixonar pela melhor amiga Elsa, a escritora enviava a ela um sem-número de cartas. Desde muito pequena, ela tinha em mente que os únicos seres merecedores do amor são as mulheres. Na escola, uma colega – que também passava por uma turbulenta descoberta da sexualidade – disse a ela: “Quando um homossexual morre, ele vai para o inferno.” No que prontamente Cristina, afiadíssima, perguntou: “E se ele não soubesse que era homossexual?” Vai para o inferno do mesmo jeito, respondeu Alina, horrorizada com seu próprio destino. Daí vem uma das frases mais bonitas do livro, dita por Cristina: “Se deixar de ser anormal consistia em deixar de amar Elsa, eu não me sentia capaz de fazê-lo.”
Além das mulheres, a escrita é também um objeto do amor de Cristina. No capítulo de título A Remington (em referência à fabricante de máquinas de escrever), ela compara, primeiro, a devoção à escrita ao piano e aos concertos de Chopin – uma doce reflexão sobre ritmo. Mais tarde, descobriria que a atividade de teclar é muito similar à de tocar um corpo (“acariciando sua pele, seus tendões, percorrendo suas entradas e suas saídas, assombrada diante do prazer, extasiada de que existisse e estivesse entre minhas mãos”).
Os dezoito capítulos de A insubmissa são geralmente curtos. Nenhum deles se arrisca a conclusões. É um livro indiscutivelmente fluido, e a escrita de Peri Rossi é leve – uma característica intrigante, já que são as palavras de alguém que foi exilada e teve sua obra proibida durante a ditadura uruguaia, que durou de 1973 a 1985.
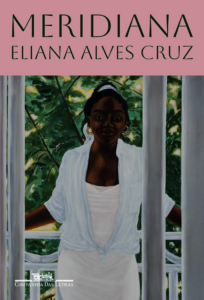
INDICAÇÃO DE EMILY ALMEIDA
A ascensão social cobra um preço – e, para uma família negra, ele tende a ser mais cruel. Esse é o mote que guia Meridiana, quinto livro da escritora, jornalista e roteirista Eliana Alves Cruz. O livro é dividido em seis capítulos – um para cada personagem narrar sua perspectiva sobre os acontecimentos que moldam a vida dessa família ao longo dos anos.
Aurora e Ernesto moravam na Favela Matadouro, onde o casal se conheceu. Quando começam a ganhar mais dinheiro, mudam-se para um condomínio de classe média chamado Bougainville. É já nesse cenário que acompanhamos também a vida de seus três filhos: os gêmeos César e Augusto e a caçula, Meridiana, que dá título à obra. A mudança traz consigo o plano de replicar o modo de vida das pessoas que vivem no “centro da cidade” – comprar os mesmos móveis, frequentar os mesmos clubes e escolas, vestir as mesmas roupas, se passar por um deles. Apesar da tentativa, e da proximidade, o racismo se encarrega de lembrá-los, a quase todo momento, de que isso não é plenamente possível.
Meridiana é um livro sobre o que chega – e o que fica para trás – com a mudança de classe social. Destaca-se a maneira com que Alves Cruz expõe as tensões que surgem pelo caminho. Um ponto alto da narrativa é a relação da família com uma empregada doméstica negra e as dores que atravessam esse vínculo, de ambos os lados. Os conflitos geracionais também ocupam espaço relevante na trama, incluindo o conservadorismo dos mais velhos.
Alves Cruz descreve com clareza e sensibilidade a angústia de se viver em um não lugar: o novo, que por tanto tempo foi objeto de desejo, revela aos poucos sua hostilidade. A primeira casa – o lugar onde tudo se constituiu, mesmo distante da ideia de sucesso e sem oferecer conforto – carrega um simbolismo nostálgico. A obra remonta à ideia de que as origens nunca nos abandonam por completo, até que, como descrevem alguns personagens, essa familiaridade também se desfaz. Um dos filhos afirma: “Eu estava percebendo que a minha gente também havia se tornado estrangeira para mim.” Não há exatamente para onde voltar, e onde se está também não parece um espaço totalmente seu. Logo nas primeiras páginas, Meridiana pergunta ao pai, Ernesto, se “é mais fácil ir ou voltar”. Ao fim da leitura, essa mesma reflexão nos acompanha.

INDICAÇÃO DE FELIPE FERNANDES
“Me interesso pela literatura dos que não precisam escrever”, solta Letrux, lá pela metade do seu novo livro, Brincadeiras à parte, lançado pela Planeta. Terceiro título publicado da multiartista, nesta obra Letrux, nome artístico de Letícia Novaes, brinca com a ideia de brincar. Em uma sequência de nove contos, a escritora assume diferentes narradores, todos com algum tipo de jogo na trama. Buraco, xadrez, dados, loteria, adivinhação.
Em um dos contos, a narradora é uma tia meio esotérica que recebeu um coração transplantado e passa a se comunicar com a doadora falecida por cartas ainda no hospital. Ao lado do sobrinho de 7 anos, Samuel, ela se aproveita da ligação estabelecida com o outro plano para ter informações privilegiadas sobre o futuro: “Vou conseguir andar até o final da semana que vem?”, indaga ela. “Vou ganhar uma bicicleta maior no Natal?”, pergunta o pequeno. Se puxar a carta e der paus, é sim; ouros é não; espadas, talvez ou mais ou menos; copas é nunca. A brincadeira começa a ficar mais interessante quando os dois pedem permissão para guardar o baralho, mas sai um dois de copas.
Outro conto se passa num futuro distópico: a narradora é uma senhora aposentada, casada, que vive em uma casa sem janelas. O ar atmosférico já está péssimo, há avisos de bolas de fogo caindo do céu. Meio desgostosa com a vida, ela aguarda o fim do mundo sozinha, jogando paciência. Torce para que a companheira tenha uma amante, desde que não traga problemas, doenças ou atrapalhe suas partidas. O universo, ela diz, já tentou matá-la algumas vezes em aniversários anteriores. Num deles, engasgou e ninguém percebeu. Noutro, o bico de uma gaivota quase rasgou o céu da sua boca. No aniversário de 77 anos, algo ainda mais estranho aconteceu: menstruou. Para a narradora, as bolas de sangue na calcinha sugerem que as bolas de fogo no céu estão caindo de verdade. “Deve ser o universo me lembrando de que, para estar aqui, eu posso não estar a qualquer momento.”
Nas palavras da própria escritora, a obra é “biruta”. Mas tem muito sentido na loucura: ela defende, quase como se fosse um manifesto, o jogo e a brincadeira como formas de dar sentido aos dias, de adquirir conhecimento e conhecer gente nova. Valoriza o lúdico, a distração, a abstração. Segundo ela, para jogar é preciso ter constância, tesão, curiosidade e graça. Tudo o que diz buscar na vida. Lendo o livro, penso que esses também poderiam ser meus pedidos para o ano novo que se aproxima. Acho carteado complexo, vou começar por damas.

INDICAÇÃO DE GILBERTO PORCIDONIO
É muito interessante como parte da intelectualidade negra deu, nos últimos anos, um novo sentido para o termo “não lugar”. A expressão tinha se popularizado originalmente nos anos 1990, a partir do significado dado pelo antropólogo francês Marc Augé, em seu livro Não lugares. Na visão de Augé, não lugares são os lugares tidos como “neutros”, que nos deixam com uma sensação de desorientação temporal e espacial por serem iguais no mundo todo: shoppings, aeroportos, restaurantes de fast-food. Já na paráfrase atual, o termo tem sido exaltado para se falar de lugares onde é impossível se encaixar como uma pessoa de direitos. É essa experiência de eterno exílio que os afro diaspóricos sofrem ao perceberem que, por aqui, “ninguém, ninguém é cidadão”, como diz a canção Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Por meio da sua experiência singular transformada em versos cheios de verve, a escritora Nina Rizzi expõe, em três pilares – Ilê, Diáspora e Orí Iwaju –, esse não lugar que toda pessoa melaninada experimenta. Lá estão os lugares da sua infância, os amores, as violências e os abusos. As dores e delícias de Nina se tornam as nossas, e cada frase soa como se cortasse a carne ao mesmo tempo que a cauteriza. Vivência que, de tão singular, também acaba sendo coletiva, como se Nina tomasse a trama vermelha de Rosana Paulino e costurasse a sua experiência poética e filosófica com a dororidade de Vilma Piedade, o pretuguês de Lélia Gonzalez, a escrevivência de Conceição Evaristo e a combatividade de Solano Trindade.
Diáspora não é lar é uma leitura que empurra para a zona do desconforto, de um antirracismo que não serve apenas para apaziguar a culpa da branquitude, de um mundo construído em cima do “mercado George Floyd”, conforme ela cita. É, sobretudo, um relato do exílio. É a experiência da negritude numa casca de “nós”.
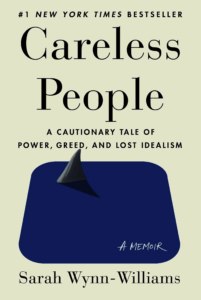
INDICAÇÃO DE JOÃO BATISTA JR.
Em março de 2016, o então vice-presidente do Facebook no Brasil, o argentino Diego Dzodan, foi preso a caminho d o trabalho, em São Paulo, quando a Polícia Federal cumpriu uma decisão da Vara Criminal de Lagarto, município de Sergipe. A prisão preventiva se deu porque a empresa se negara a cumprir uma solicitação de quebra de sigilo de mensagens de WhatsApp, no contexto de uma investigação de tráfico interestadual de drogas. O encarceramento durou pouco. O executivo foi solto no dia seguinte. O caso, no entanto, sacudiu o Vale do Silício.
Com a prisão de Dzodan, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, postou uma frase em sua plataforma endereçada à suposta batalha pela liberdade de expressão: “Please make your voice heard and help your government reflect the will of its people” [Por favor, faça com que suas vozes sejam ouvidas, e ajudem o seu governo a refletir a vontade do povo]. Muitos usuários fizeram o que o magnata das big techs pediu, e começaram a marcar e a atacar a então presidente Dilma Rousseff online. Era um contrassenso, já que um chefe de Estado não tem ingerência em uma decisão judicial. O gabinete de Rousseff contatou Sarah Wynn-Williams, então diretora de políticas públicas da empresa, para demonstrar desaprovação à atitude do chefe dela. Wynn-Williams então recomendou ao seu chefe que deletasse ou editasse a postagem – ele editou, e o gabinete de Rousseff vazou para a imprensa que a mudança se deu após o pedido do Palácio do Planalto. Zuckerberg ficou possesso, o que piorou a sua relação com o Brasil.
Esse episódio é um entre muitos que Wynn-Williams conta no seu ótimo livro de memórias Careless People: a Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism, lançado em março nos Estados Unidos pela editora Flatiron Books. A autora trabalhou na empresa entre 2011 e 2017, mantendo uma relação próxima com Zuckerberg. Seu livro é um dos melhores registros – com documentação farta, incluindo e-mails e mensagens – sobre como o Facebook, que depois iria se tornar o conglomerado Meta, usou seu poder para lucrar em cima da privacidade e da liberdade de seus usuários e da polarização entre eles. A narrativa é um mergulho no sistema operacional de Zuckerberg em busca do lucro: mentiras no Congresso americano; promessas ao governo chinês de expor dados sigilosos dos usuários; conivência com o genocídio étnico em Mianmar, entre outros casos. A autora conta também como uma denúncia sua de assédio sexual não deu em nada, e sobre a ajuda do Facebook à campanha de Donald Trump, em 2016.
A relação da empresa com o Brasil aparece em diversas passagens. Wynn-Williams conta, por exemplo, que o seu chefe teve a ideia de lançar uma plataforma chamada Internet.org, que supostamente daria acesso gratuito à internet em países pobres ou em desenvolvimento. O Brasil seria crucial para a coisa vingar – pela população, poder de consumo e relevância geopolítica. Mas o projeto era uma falácia: Zuckerberg não queria dar acesso livre, mas sim que as pessoas se conectassem à internet através do Facebook. Como moeda de troca, ele concederia os dados dos usuários aos governantes que topassem aderir. Rousseff foi terminantemente contra, e as tratativas – inclusive os detalhes de uma reunião entre a ex-presidente e Zuckerberg – são relatadas no livro.
A Meta tentou, sem sucesso, barrar a publicação de Careless People nos Estados Unidos, e conseguiu suspender a promoção do livro pela autora por suposta violação de uma cláusula de não difamação. No Brasil, nenhuma editora até agora comprou os direitos de tradução do livro.

INDICAÇÃO DE LUIGI MAZZA
“Lott e Denis tinham um telefone de campanha em suas casas para poderem se comunicar sem interceptações. Denis tentou convencer Lott a colocar o Exército em prontidão, mas Lott não quis e, em vez disso, jantou e deitou-se. Não conseguiu dormir, viu as luzes da casa de Denis ainda acesas, ligou para ele e ambos decidiram depor Carlos Luz.”
Os personagens do parágrafo acima são os marechais do Exército (na época, ainda generais) Henrique Lott e Odílio Denis. Em 1955, moravam lado a lado no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, e uma bela noite, como vizinhos que discutem uma questão corriqueira, resolveram derrubar o presidente em exercício do Brasil, Carlos Luz. A cena, em sua completa banalidade – o jantar em casa, o general se preparando para dormir, a rotina de um dia qualquer –, é uma espécie de síntese da relação dos militares brasileiros com a República. Comemos, deitamos e, se der na telha, arquitetamos um golpe de Estado.
Utopia autoritária brasileira, do historiador Carlos Fico, é pródigo em cenas como essa. O livro reconstitui um a um os golpes, os contragolpes e as tentativas frustradas de golpes e contragolpes que as Forças Armadas patrocinaram. Pouco importa que Lott e Denis tenham derrubado Luz com um pretexto legalista para garantir a posse de Juscelino Kubitschek em 1956 (tese amplamente aceita pelos historiadores, mas questionada por Fico). O episódio, como todos os outros, reflete a nossa debilidade democrática e a visão que os militares sempre tiveram de si mesmos como tutores da República. Fico traduziu bem essa mentalidade na expressão que dá nome ao livro. Uma utopia autoritária – algo que não se qualifica como ideologia e é feito de noções vagas como a honra, o brio e o pundonor militar. Palavras mobilizadas segundo a conveniência, mas sempre para justificar atos de violência.
É uma leitura esclarecedora, que espanta – quando não faz rir – pela semelhança entre episódios que aconteceram há cem anos e outros que aconteceram há três. Difícil não lembrar de Ives Gandra Martins lendo os discursos empolados de Rui Barbosa. As ideias e os métodos são essencialmente os mesmos desde o final do século XIX. A cobertura a que parte da imprensa se dedicou nos últimos anos, noticiando o “mal-estar” e a “insatisfação” da “caserna” sempre que algum interesse dos militaes era contrariado, torna-se um pouco ridícula quando percebemos que a mesma arenga já era usada pelos militares na época do Império.
O livro foi concluído antes da condenação de Jair Bolsonaro e seus generais por tentativa de golpe de Estado, mas é uma bela contribuição para quem quer entender o peso histórico do que aconteceu em 2025. A investigação formal de militares, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, a punição – todas foram etapas inéditas na história brasileira. Mais inédito ainda será, como escreveu Fico nas considerações finais, se não houver anistia aos golpistas, como houve em 1905, 1922, 1924, 1956, 1959 e 1961. Nas seis ocasiões, quem aprovou o perdão foi o Congresso Nacional, onde o espírito de Rui Barbosa continua vivo.

INDICAÇÃO DE PEDRO TAVARES
O livro de Sérgio Rodrigues tem um público específico. Lançado em julho pela Companhia das Letras, Escrever é humano: como dar vida à sua escrita em tempo de robôs é uma “ambígua tutoria” para quem vive tragado pela necessidade de escrever. Sim, porque tanto Rodrigues quanto Philip Roth – um dos vários autores que se dedicaram à questão e que aparecem ao longo do livro – sugerem que, se possível, é melhor evitar cair no vórtex de escrever. Mas às vezes é inevitável.
Apesar do título, o manual de Rodrigues dedica poucas páginas à reflexão da escrita humana em tempos de Inteligência Artificial. A maior parte do texto é um guia bem-humorado, repleto de contribuições ilustres, dos aprendizados do próprio autor em sua jornada de escritor. Daí surgem páginas em que pessoas como eu, que ainda engatinham nesse mundo das letras, se reconhecem e se confortam. Há dicas simples e efetivas: inspirado na literatura de Vladimir Nabokov, Rodrigues sugere substituir clichês e frases feitas por uma exaltação parcimoniosa do detalhe e do movimento, da “vida acontecendo”.
O terceiro capítulo versa sobre a sofreguidão em torno da descoberta do próprio estilo. Aficionado por autores como Clarice Lispector, José Saramago ou Machado de Assis – de quem basta uma simples página para reconhecer a força do estilo –, fiquei particularmente tocado pela fórmula do “tudo pode ser o contrário”. O conceito trabalhado por Rodrigues é de que, muitas vezes, escritores em busca de um estilo recebem críticas acerca de uma característica peculiar de seus textos. A falta de pontuação em Saramago e os neologismos de Guimarães Rosa, por exemplo, podem ter sido no passado alvo de reprimendas de editores, mas os autores resolveram apostar justamente no que causa mais estranheza para marcar a especificidade de seus textos. E isso cria um estilo.
Depois de capítulos sobre a importância da narrativa e da construção de personagens, o epílogo finalmente trata de IA. Rodrigues traz de Jorge Luis Borges a reflexão de que textos, se pudessem ser escritos por deuses imortais, perderiam um sabor exclusivo à pena mortal: só mortais valorizaram com o tom correto o que é cerimonioso, fugaz ou grave. Porque tudo depende da percepção limitada da vida em seu tempo e consciência. O ChatGPT para Rodrigues é um novo imortal: pensa, escreve, reflete e orienta. Mas não vai conseguir nunca a complexidade do falível. Ponto para nós, escritores humanos.

INDICAÇÃO DE RAQUEL ZANGRANDI
“Se o desafio de nossos tempos é deixar para as futuras gerações uma Terra habitável, o que, então, precisamos fazer?” A partir desta pergunta, dois antropólogos da University College London, Jerome Lewis e Chris Knight, procuram responder ao problema mais urgente da nossa era neste pequeno livro-manifesto.
Na esteira da ressaca pós-COP30, em que pela trigésima vez constatamos avanços mínimos e obstáculos imensos na preservação do meio ambiente, Lewis e Night ensinam que inspirados nos povos indígenas podemos olhar no retrovisor e botar em prática pequenas atitudes pessoais e coletivas que nos reconectem com nossos vizinhos, com nosso bairro, aplicando nossas habilidades e iniciativas no próprio chão em que vivemos. Atitudes como valorizar a produção local de alimento, promover o voluntariado e buscar soluções para questões de curto alcance talvez sejam a melhor forma de começar essa mudança.
Segundo os autores, teremos que elaborar novas formas de seguir no planeta, mirando no exemplo daqueles que ainda vivem da terra e pela terra: “O que está claro é que teremos poucas chances de um futuro habitável, a menos que reorientemos radicalmente os valores dominantes para aqueles promovidos por tantos povos indígenas.” Ou ainda: “Considere o impacto de suas decisões naqueles que estarão vivos daqui a sete gerações.”
O tema central do livro é a valorização da diversidade em todas as esferas, na contramão da padronização de um mundo tecnológico árido de costumes e ideias, que os autores consideram a maior ameaça existencial do nosso tempo: a homogeneidade equivale à fragilidade.
Com tradução de Marina Matheus e um projeto gráfico que reúne ilustradores indígenas com belos desenhos arejando o texto ao longo da edição (Aza, Cristine Takuá, Larissa Baniwa, Thais Desana, Yaka Huni Kuin, Sueli Maxakali, Wewito Piyãko, Moisés Piyãko, Mongemba BaYaka e Selvagem Ciclo), o livro da editora Dantes nos convoca a sair da inércia e procurar caminhos alternativos dentro da nossa própria rotina para cuidar do planeta, em vez de esperar que alguém o faça por nós.
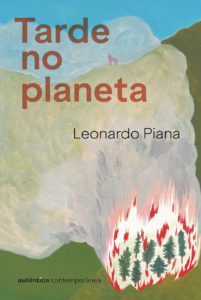
INDICAÇÃO DE THALLYS BRAGA
É difícil sintetizar a história contada em Tarde no planeta. Um texto na contracapa do livro diz que ele trata da “dimensão que damos à ideia de finitude, a nossa relação instável com o que entendemos por não humano e a elasticidade dos laços familiares”. A sinopse pode até funcionar para as pessoas que encontrarem o livro numa livraria, mas ainda é imprecisa. A culpa não é dos editores, mas do mineiro Leonardo Piana, que escreveu esse romance indefinível.
Aos 16 anos, Carlos vive com os pais numa pequena cidade fincada na Serra da Mantiqueira, “este pedaço de país onde caberia um pequeno novo país”. O mundo ao redor anuncia a sua ruína: as aves e as abelhas estão migrando para longe, os gatos fogem da casa dos seus donos e os peixes tentam nadar contra a correnteza dos rios. O garoto tem certeza de que, em muito pouco tempo, só as pedras permanecerão ali. Todo o resto queimará, incluindo ele e a sua família. Às vezes ele até deseja que a família seja consumida de uma vez.
Sua mãe, Diana, é uma poeta que deixou de escrever depois do nascimento desse filho que ela nunca quis ter. A gravidez só alegrou Ernesto, o marido que pretere a poesia de Diana. Ernesto só consegue dar algum valor ao trabalho da mulher no dia em que o editor dela, Sérgio, diz, durante um jantar, que Diana é a melhor poeta que ele conhece. Depois daquele jantar, Sérgio se torna o grande amigo do casal. Ele vive na cidade, mas sobe para a casa na montanha sempre que pode. É um bom padrinho para Carlos, quase um segundo pai. Com Ernesto, escala falésias na Serra da Mantiqueira, e diante dos paredões os dois cultivam uma relação alheia às outras pessoas.
Carlos teme o fim do mundo, mas o que o aflige na maior parte do tempo é a ruína que acontece dentro dele enquanto tenta lidar com essa configuração estranha de família. Ao se assumir gay, os adultos, progressistas, não dão a mínima, e Carlos se frustra. Mas, quando se apaixona por um garoto da cidade e o leva para casa, seu namorado é repelido pela família. Carlos não entende, e nunca poderá entender, pois os adultos jamais admitirão o que realmente sentiram diante do seu namorado.
Tarde no planeta venceu o Prêmio Literário Cidade de Belo Horizonte de melhor romance no início do ano, antes de ser publicado pela Autêntica Contemporânea. Leonardo Piana tem 32 anos e é mineiro de Andradas. Em uma conversa com o escritor no mês passado, eu disse a ele que o considero um escritor de família. Os personagens dele se deparam com a impossibilidade de revogar o vínculo familiar, mesmo quando isso é tudo de que precisam. Piana diz que prefere ser visto como um escritor do desejo. Quem sabe eu consiga vê-lo assim depois de ler o livro em que ele trabalha agora, um romance inspirado no amor que viveu com um homem italiano durante um intercâmbio na Espanha.

INDICAÇÃO DE TIAGO COELHO
O poeta Antonio Cicero morreu no dia 23 de outubro do ano passado. Diagnosticado com Alzheimer, ele decidiu por uma morte assistida. Por isso se transferiu para Zurique, na Suíça, onde a prática é legal. A circunstância de seu fim pode ter chocado os incautos que não se dão conta de que os poetas não temem a morte.
Em julho deste ano, a Companhia das Letras publicou Fullgás: poesia reunida. Filósofo de formação, a poesia de Cicero é farta de um existencialismo sóbrio e profundo. No poema Nênia, ele escreve: “A morte nada foi para ele, pois enquanto vivia não havia morte e, agora que há, ele já não vive. Não temer a morte tornava-lhe a vida mais leve e o dispensava de desejar a imortalidade em vão.”
Ler a poesia de Antonio Cicero é uma experiência prazerosa e inebriante, como sentar-se num fim de tarde roxo-alaranjado numa pedra no Arpoador e mirar uma névoa de maresia cobrir a cidade, enquanto se reflete sobre o amor, a finitude, a permanência, o sexo, a memória. De ritmo marcante e sintaxe cristalina, a escrita de Cicero é verbivocovisual: uma característica da poesia que une a palavra, a imagem e o som. Ele era a encarnação da elegância carioca, e a atmosfera da cidade é onipresente em sua obra. Como no poema Onda: “Conheci-o no Arpoador: / garoto versátil, gostoso, / ladrão desencaminhador / de sonhos, ninfas e rapsodos/ […] Fui todo ouvidos, tatos, vistas / e pedras, sóis, desejos, mares. / E nos chamamos de bacanas e prometemo-nos a vida: / comprei-lhe um picolé de manga / e deu-me ele um beijo de língua / e mergulhei ali à flor / da onda, bêbado de amor.”
Admirador da poesia cerebral de João Cabral de Melo Neto e do existencialismo de Carlos Drummond de Andrade, Cicero foi influenciado pelo movimento da poesia concreta. Gostava da poesia de versos porque era ligada a sonoridade, som, ritmo, melodia. Ficou conhecido também pelas letras de canções de sua irmã Marina Lima, de Lulu Santos e Adriana Calcanhotto. Algumas estão no livro. O último romântico: “Talvez eu seja o último romântico dos litorais desse Oceano Atlântico/ Só falta reunir a Zona Norte à Zona Sul, iluminar a vida, já que a morte cai do azul.” Inverno, em parceria com Calcanhotto: “Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só/ Num deserto sem saudade, sem remorso, só/ Sem amarras, barco embriagado ao mar.” Fullgás, a música que dá título ao livro: “E tudo de lindo que eu faço: vem com você, vem feliz/ Você me abre seus braços e a gente faz um país.”
Um dos primeiros sintomas do Alzheimer é o esquecimento. A função do poeta, porém, é lembrar, guardar. O poema Guardar, um dos mais bonitos da coleção, diz: “Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema: para guardá-lo: para que ele, por sua vez, guarde o que guarda: guarde o que quer que guarde um poema: por isso o lance do poema: pra guardar-se o que se quer guardar.”

É escritor, ensaísta e editor de literatura da piauí. Autor do romance Apátridas (Companhia das Letras)

Repórter da piauí

Editor da piauí, é autor de Júlia e Coió, Rita Distraída e Sorri, Lia! (Edições SM)

Repórter da piauí, é apresentador do podcast A Terra é Redonda (Mesmo) e autor dos livros Admirável novo mundo: uma história da ocupação humana nas Américas (Companhia das Letras) e Domingo É Dia de Ciência (Azougue Editorial)

É repórter da piauí

É repórter da piauí

Repórter e editora-assistente de redes sociais da piauí

Jornalista, é colaborador de textos e vídeos na piauí

É checador e repórter do site da piauí, roteirista e apresentador da audiossérie Chumbo & Soul, um Original Audible produzido pela Rádio Novelo

Repórter da piauí, publicou A Beleza da Vida: A Biografia de Marco Antonio de Biaggi (Abril)

Editor do site da piauí. Foi repórter da revista em Brasília e diretor do podcast Foro de Teresina

Repórter da piauí

Produtora-executiva da piauí.

Repórter da piauí

Repórter da piauí e roteirista de cinema
Leia Mais
Assine nossa newsletter
E-mail inválido!
Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí