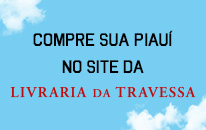Tragédias sem fim: o temporal de 1966 levou à criação de novos órgãos públicos, mas “voltados para lidar com catástrofes, não com a chuva”, diz a historiadora Lise Sedrez CRÉDITO: REPRODUÇÃO_ULTIMA HORA_1966
Políticas públicas ignoram as enchentes
Pesquisa diz que número de dias de chuva tem aumentado, mas governos no Brasil preferem agir depois que ocorrem os desastres e tragédias
A necessidade de inserir de vez a chuva nas políticas públicas do país ganha hoje ainda mais urgência, diante da mudança climática em curso no planeta. Uma das consequências do aquecimento global é o aumento dos episódios de chuvas extremas. O relatório Normais climatológicas do Brasil 1991-2020, produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), demonstra que já vem ocorrendo uma modificação clara no padrão de precipitação do país, informa Fernando Tadeu Moraes na edição deste mês da piauí.
Comparando os dados da última década com o período de 1961 a 1970 nas cidades de São Paulo, Belém e Porto Alegre, o estudo mostra que em todas elas houve um aumento dramático do número de dias com chuvas acima de 50 mm, 80 mm e 100 mm. Em São Paulo, elas passaram de 37 para 47 dias no primeiro caso, de 3 para 16 no segundo e de 0 para nada menos do que 7 no terceiro. Em Belém, foram de 37 para 110 dias, de 9 para 26 e de 3 para 7. Já na capital gaúcha, observou-se um aumento de 23 para 56 dias, de 5 para 8 e de 1 para 2.
O climatologista José Marengo, membro do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, da ONU, e coordenador-geral de Pesquisa e Modelagem do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que as alterações registradas no regime de chuvas têm origem tanto na elevação da temperatura global, acelerada e amplificada pela ação humana, como na urbanização mal planejada – a pavimentação excessiva e a carência de áreas verdes aumentam a absorção e diminuem a reflexão da radiação solar nas áreas urbanas, produzindo o fenômeno das ilhas de calor. “Esses dois fatores combinados, um atuando numa escala global, outro numa escala local, vêm aumentando as temperaturas médias das cidades nas últimas décadas e, consequentemente, impulsionando a ocorrência de extremos climáticos, como grandes chuvas, mas também grandes secas”, afirma Marengo.
Enquanto isso, o poder público age como o bombeiro que corre para salvar as vítimas, em vez de atuar antecipadamente para evitar o pior. “Em geral, se há algo que as cidades brasileiras têm em comum é essa cegueira do poder público com relação à chuva”, diz a historiadora ambiental Lise Sedrez. “Não estou falando de políticas para a chuva, que, bem ou mal, existem, como os piscinões ou o reforço de encostas. Estou falando de realmente incorporar a chuva nas políticas urbanas de transportes, de habitação, de infraestrutura etc.”
Sedrez também chama a atenção para a profunda segregação que caracteriza as cidades brasileiras, já que na esmagadora maioria das vezes as tragédias associadas às enchentes ficam restritas às populações mais vulneráveis. “É só quando as enchentes atingem as classes mais abastadas que começamos a ver de fato algum tipo de política pública, como ocorreu após em 1966 e 1967 no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que o desastre é um evento que afeta a todos, mas não afeta igualmente a todos.”
Assinantes da revista podem ler a íntegra da reportagem neste link.
Assine nossa newsletter
Email inválido!
Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí