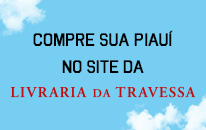Foto: Presidência da Argentina
Quem ressuscitou o fascismo?
O retorno da extrema direita não é um acidente histórico, como alguns fazem crer, mas a consequência de uma crise sistêmica do capitalismo
É preciso o diagnóstico apresentado por Pedro Lange Machado no artigo A democracia na roleta russa, publicado recentemente na piauí. De forma concisa e didática, ele explica o processo que levou ao crescimento da “popularidade dos que querem implodir a democracia”, descrito por ele em três etapas. A primeira foi a imposição da agenda neoliberal pelo mercado financeiro aos governos de esquerda e de direita – agenda que significou “uma forte ruptura com a era pré-globalização”. A segunda etapa foi a frustração popular com essa agenda, que fez com que parcelas da população se tornassem “facilmente cooptáveis pelo discurso de líderes populistas”. A terceira etapa – que ele define como a “essência sistêmica do problema” da democracia – “está associada à hegemonia do neoliberalismo progressista, que não só não é capaz de entregar a prosperidade que promete como acentua problemas sociais e interdita alternativas para solucioná-los”.
Segundo o autor, é difícil reverter a situação, “uma vez que a agenda neoliberal concentra a riqueza e é altamente benéfica para as elites econômicas”. Sem que haja uma “reestruturação da governança financeira global”, alterando a relação de poder entre o mercado e os governos, “dificilmente seremos capazes de conter a onda autoritária”. Uma pequena observação a ser feita, para dar mais precisão à análise – e que não invalida a consistente linha de argumentação desenvolvida pelo autor –, diz respeito à caracterização da hegemonia neoliberal como “neoliberalismo progressista”. Evidentemente trata-se de um progressismo restrito ao plano cultural dos costumes, visto que, no plano das condições concretas de existência, as políticas neoliberais não são nada progressistas. Resultam, na verdade, em uma violenta e brutal restrição das possibilidades de vida de grande parte da população, reduzida a condições precárias de existência e desenvolvimento humano.
Não busco aqui fazer uma réplica, propriamente, mas estabelecer um diálogo para ampliar o alcance da discussão sobre os desafios da democracia e contribuir para a análise de seus desdobramentos. Proponho o aprofundamento do diagnóstico de Lange Machado, resumido acima de modo rudimentar (recomendo a leitura do artigo na íntegra), acrescentando duas novas camadas de análise. Uma camada busca examinar as condições sócio-históricas que levaram à imposição da agenda neoliberal (que o autor identificou como a primeira etapa da crise da democracia). A outra camada problematiza o significado da onda autoritária (isto é, a terceira etapa), a partir de uma análise das dinâmicas sistêmicas do capitalismo.
A hegemonia neoliberal significou uma radical ruptura com a governabilidade do pós-guerra, conhecida como pacto fordista ou os “anos de ouro”. Sua compreensão, portanto, não pode ser desconectada dos movimentos sistêmicos do capitalismo, sob o risco de cairmos em uma análise subjetivista e voluntarista dessa “guinada” histórica.
Conforme escrevi no artigo O sacrifício da democracia, publicado em novembro na piauí, a hegemonia neoliberal foi a resposta das elites econômicas à aguda restrição das condições de valorização do capital. Com o avanço das tecnologias da Quarta Revolução Industrial (microeletrônica, robótica e internet), o mundo passou por um processo de automação que reduziu drasticamente a participação do trabalho na produção. Essa redução, que implicou uma radical alteração da composição orgânica do capital, levou à diminuição da massa de mais-valia. Assim, caiu a produção de valor, encolhendo as margens de lucro das empresas.
O ensaísta político Robert Kurz, no livro Poder mundial e dinheiro mundial: crônicas do capitalismo em declínio (2015), explicou esse processo, observando que, com a Terceira Revolução Industrial, “pela primeira vez na história do capitalismo os potenciais de racionalização [do trabalho] ultrapassam as possibilidades de expansão dos mercados”, o que diminuiu a lucratividade das empresas. Análise semelhante à desenvolvida pelo professor e ensaísta Marildo Menegat, no livro Estudo sobre ruínas (2012): “Esse enxugamento do trabalho afetou irreversivelmente a acumulação de valor do capital total.”
É importante repisar, portanto, que a formação da nova hegemonia neoliberal não pode ser reduzida a uma mudança subjetiva ou cultural das elites, descolada do que acontecia no plano sistêmico da reprodução do capital. Pelo contrário, ela decorre da necessidade objetiva, do ponto de vista do capital, de responder às condições mais restritas para a sua reprodução, diante da significativa redução das margens de lucro no processo produtivo.
Assine nossa newsletter
E-mail inválido!
Toda sexta-feira enviaremos uma seleção de conteúdos em destaque na piauí
Os tais “ajustes” necessários à manutenção das condições de acumulação impuseram uma piora severa nas condições de vida dos trabalhadores. Precarização das relações de trabalho, contenção de salários, redução de direitos e cortes nos gastos sociais. Foi essa agenda que levou à desilusão das massas populares com o establishment político, abrindo o caminho para a extrema direita, como explicou Lange Machado na segunda etapa.
Esse impasse torna-se cada vez mais agudo, porque as condições de valorização do capital estão ainda mais restritas. Como são decorrentes do processo de automação do trabalho, certamente vão piorar com o avanço da inteligência artificial. Uma evidência do colapso da produção de valor é o direcionamento de imensas massas de capital, que não conseguem se valorizar na produção, para a especulação – seja com ações na Bolsa, imóveis, criptomoedas etc.
É preciso, portanto, ir além do diagnóstico de Machado, segundo o qual a dificuldade para romper com a concentração de riqueza se deve ao fato de ela ser “altamente benéfica para as elites econômicas”. Mais do que uma escolha política, a agenda neoliberal está posta hoje como uma imposição, necessária para viabilizar uma sobrevida para o capitalismo. Essa natureza imperativa explica por que os “ajustes” neoliberais se mostram cada vez mais insuficientes. É por isso que assistimos hoje à superação dessa agenda, transformada agora em pós-neoliberal ou ultraneoliberal, como vemos nas políticas de Trump e Milei.
Essa agenda ultraneoliberal impõe um apartheid econômico e um processo de dissolução social que é visível por todos os lados – cresce a violência, a milicianização da sociedade e da política, o desmantelamento das políticas de proteção social, entre outros problemas. Como descreve Marildo Menegat, em A crítica do capitalismo em tempos de catástrofe (2019): “Como essa unidade [da sociedade] foi implodida pela crise, seu lugar vai sendo ocupado por relações sociais sustentadas no uso direto da violência, que procura manter conectado o que ainda funciona da reprodução social da velha ordem agônica.”
Essa agenda representa um desafio para as elites econômicas, já que ela é politicamente insustentável na democracia – mesmo considerando as limitações da democracia formal na maioria dos países considerados democráticos. Sua implantação exige um elevado grau de violência e a ruptura com os canais de mediação e negociação desenvolvidos pelo aparato democrático. A colonização do campo da direita pela extrema direita, que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e vários países da Europa, demonstra que as forças da direita já entenderam que a democracia hoje é um obstáculo para a sua agenda ultraneoliberal.
O campo progressista, por sua vez, ainda não entendeu que o surgimento da extrema direita não é um acidente, e sim a resposta necessária, do ponto de vista do capital, às novas condições sistêmicas. Em todo o mundo, a esquerda assiste, perplexa, ao surgimento de partidos e grupos de caráter fascista. Uma extrema direita que, em poucos anos, fagocitou a direita tradicional e hoje coloca em risco a democracia. Esse movimento deixa claro que a extrema direita não surge em oposição ao neoliberalismo, como alguns interpretam, mas como seu desdobramento em um novo momento histórico do capital.
No artigo Yes, nós temos banana, publicado na piauí_221, Fernando de Barros e Silva cria uma imagem que sintetiza brilhantemente o momento atual: “A saudação nazista de Elon Musk, no dia da posse do presidente americano, é a grande banana que a oligarquia digital do Vale do Silício dá à democracia no planeta. Está em andamento uma cruzada fascista pelo mundo, em nome de ideais libertários e a serviço da face mais destrutiva do capitalismo.”
Diante desse cenário, o primeiro desafio das forças progressistas é entender que “a grande banana” que as oligarquias dão à democracia não decorre de uma opção cultural, ideológica ou subjetiva. A destruição da democracia é a condição política para a implementação do apartheid previsto pela agenda ultraneoliberal, que, por sua vez, é necessária para a reprodução do capital neste momento de crise da produção de valor.
O segundo desafio é compreender que a crise sistêmica de produção de valor significa que o capitalismo está se aproximando do seu limite histórico, o que impõe a necessidade imediata de pensar a sua superação. Nessa fase terminal, o sistema capitalista tende a produzir um quadro cada vez mais agudo de dissolução social, destruição ambiental e barbárie.
Escapar da crise não é tarefa fácil. Retomo aqui, por isso, a frase com que finalizei o artigo O sacrifício da democracia: “Esse desafio se apresenta ainda maior quando vemos, na discussão acadêmica e na imprensa, que é considerado mais plausível discutir o colapso climático do planeta ou a possibilidade de uma guerra – que podem significar uma regressão à barbárie para a espécie humana – do que a superação do capitalismo.”
Leia Mais